Na outra banda do rio-mar, fomos ao encontro de um pedaço da África na Amazônia. O percurso até o Quilombo Saracura é feito somente de barco, cruzando o encontro entre os rios Tapajós e Amazonas: localizada em uma ilha, essa é uma das 12 comunidades quilombolas da região de Santarém, no oeste do Pará, que nasceram da resistência à escravidão e ainda hoje lutam pelo reconhecimento do seu direito ao território. Em sintonia com a Mãe Terra, são populações que vivem do extrativismo e da agricultura familiar e, como guardiões da floresta, sofrem com a expansão do agronegócio predatório, do garimpo e de obras com grande impacto ambiental, como a construção de portos e hidrelétricas. Em comum, guardam tradições ancestrais que fazem com que se reconheçam pelo nome poético de “comunidades afro-amazônidas”.
Chegamos ao porto, fascinados pela beleza do Rio Tapajós, e subimos na bajara, uma pequena embarcação movida a motor que iria nos levar até a ilha para mais uma série de entrevistas nas comunidades quilombolas — que fizemos durante uma viagem a Santarém, o repórter fotográfico Eduardo Oliveira e eu, em março de 2019 (Radis 200). No caminho, cruzamos a confluência do Tapajós com o Amazonas. O murmúrio das ondas era como a voz dos encantados, que povoam o imaginário da região. E foi aos encantados do rio que pedimos licença antes de entrar no barco e iniciar viagem.
Seguimos na companhia de Dileudo Guimarães, 54 anos à época, presidente da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS), que tanto fazia a vez de guia quanto de principal personagem desta matéria sobre a resistência das comunidades quilombolas ao avanço do agronegócio, da mineração e de grandes empreendimentos sobre suas terras. Com voz mansa e olhar perspicaz, ele rememorava histórias do passado e ao mesmo tempo falava, com paixão, da mobilização e resistência do presente. “Nós temos a terra como mãe. Tudo que a gente precisa para sobreviver se tira dela. A terra é vida”, disse a mim, em entrevista, em palavras que ecoaram em meu coração.



Como repórter, esta era uma oportunidade de exercitar aquilo que constitui a essência do jornalismo: o ato de ouvir. Como um ser humano apaixonado por histórias e praticante de uma religião afro diaspórica, a Umbanda, era um mergulho em saberes e vivências transmitidos de geração a geração. E na perspectiva de comunicação partilhada pela Radis, não bastava ouvir — era essencial dialogar e promover encontros com estes que estão à margem das narrativas oficiais e da cobertura da imprensa comercial, como os povos tradicionais, em sua luta pelo direito à terra e pela preservação ambiental.
Cercados por água de todos os lados, os moradores do Quilombo Saracura enfrentam uma contradição: não têm acesso à água potável. Também não contam com o fornecimento de energia elétrica. Depois de quase duas horas de percurso, avistamos as primeiras casas da ilha, em contraste com o céu muito azul, crianças saindo da escola e algumas embarcações. Somos recebidos com carinho pelos moradores, que propõem uma roda de conversa para contar suas vivências, subvertendo a tradicional lógica do repórter versus entrevistado. A tarde avança no embalo das histórias e, ao cair do dia, é hora de retornar a Santarém — porém, as nuvens escuras no céu prometendo chuva indicam que a travessia de volta pelo Rio Amazonas, no breu da noite, não será fácil.


Novamente é aos encantados das águas que pedimos proteção. Eles parecem conduzir a bajara em segurança até o porto. A experiência de atravessar um Amazonas agitado, entre o fim da tarde e a noite, é intensa, porém inesquecível. Em busca das histórias dos quilombolas de Santarém, visitamos quatro comunidades. Como síntese, a voz potente de Cleide do Arapemã, moradora de outro quilombo da região, canta o sentimento de luta e pertencimento desta África que resiste na Amazônia: “Quem foi que disse que o negro não tem valor? / Que o negro não tem sentimentos? / Que o negro não sente dor?”.

Em minhas andanças como repórter de Radis, esse encontro com a África na Amazônia me lembra outra vez que me deparei com a ancestralidade africana, em um terreiro de Umbanda na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A pauta era intolerância religiosa (Radis 152). Não havia melhor maneira de abordar o tema do que ouvindo a parcela da população que mais sofre com essa questão, os praticantes de religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Na ladeira que leva à Casa do Perdão, terreiro comandado por Mãe Flávia Pinto, descobrimos que havia espaço para Cristo e Oxalá — só não havia lugar para a intolerância.
O encontro com a mãe de santo — mulher preta e militante contra o racismo e em defesa das religiões de matriz africana — teve um simbolismo dentro de minha trajetória pessoal e como jornalista. Em 2015, quando peguei essa pauta, era novato na Fiocruz, com apenas dois meses de Radis — e como umbandista, estava prestes a passar por um importante rito de preparação, que no ano seguinte me levaria a estar à frente do meu próprio terreiro. “Todo terreiro é um núcleo de assistência social, de promoção da saúde pública e de cidadania. O terreiro é um verdadeiro quilombo urbano”, afirmou Mãe Flávia, naquele dia. Ao ouvir suas palavras, entendi que a profissão de jornalista me fazia um convite para também me somar à luta pelos direitos dos povos tradicionais. Saúde, direito à comunicação e cidadania andam de mãos dadas.

“Saúde, direito à comunicação e cidadania andam de mãos dadas.”
Luiz Felipe Stevanim
A urgência da pauta ambiental — em um contexto em que crescem as ameaças aos povos indígenas e quilombolas — mostra que são essas populações que ainda mantêm a floresta de pé. Em meio à pandemia de covid-19, o avanço das queimadas no Pantanal e na Amazônia e do garimpo em terras indígenas nos levou a produzir uma pauta mostrando o protagonismo dos povos da floresta na resistência socioambiental (Radis 227). Dessa vez, por conta da pandemia, tivemos que ouvir nossas fontes por outros meios: em chamadas telefônicas, por videoconferência ou ainda em conversas por aplicativo.
Foi assim que tive um longo papo com uma filha dos igarapés, liderança indígena de reconhecimento internacional, Alessandra Korap Munduruku, que contou como os povos indígenas da Amazônia têm se organizado para conter o avanço do garimpo, das madeireiras e de grandes empreendimentos como portos graneleiros. “A Amazônia pede socorro. Não é só a gente que tem que defender. O mundo todo tem que saber o que está acontecendo”.
Mais uma vez, na fala de uma liderança dos povos tradicionais, havia o convite para que a nossa palavra de comunicador ecoasse as vozes ancestrais de populações que resistem e existem em função da defesa da Mãe Terra. Quem sabe não seja esta a vocação de um repórter que faz comunicação pública em saúde no século 21: a tarefa de ouvir e de se somar a essa grande roda de cura da Terra, como têm proposto os povos originários? Assim seguimos na Radis, promovendo encontros e travessias transformadoras.









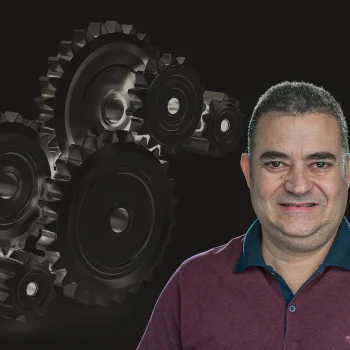
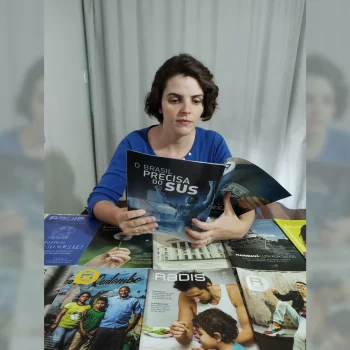

Sem comentários