Da comunidade remanescente de quilombo de Campo Grande, localizada no município de Santa Terezinha, no Recôncavo Baiano (a 112 km de Salvador), a jovem Graciely Carmo começou a sonhar, aos 15 anos, com a possibilidade de ser médica. Desde pequena, ela assistia filmes em que a profissão estava presente e também observava, com curiosidade, a atuação de trabalhadores da saúde. Hoje, aos 22 anos, a estudante cursa o terceiro período de Medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), depois de ter concluído o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Graciely teve a porta de entrada aberta para a universidade pública através da política de cotas.
As histórias de Graciely e de tantos outros estudantes negros, indígenas e oriundos de escolas públicas que conseguiram acessar o ensino superior público no Brasil através das cotas fazem parte de um processo de reparação histórica. Inseridas em um conjunto de ações afirmativas, as cotas começaram a ser adotadas em algumas instituições superiores de forma independente ainda no início dos anos 2000, o que ampliou o debate e colocou na agenda pública a necessidade de construir medidas capazes de reverter as desigualdades no acesso à universidade. Graças à pressão social, principalmente de movimentos negros, foi aprovada a Lei 12.711 de 2012, que instituiu a reserva de vagas nas universidades e instituições federais de ensino e pode passar por revisão ainda este ano, ao completar dez anos de sua implementação.
Que balanço é possível fazer dos 10 anos da lei que garantiu metade das vagas nos cursos de graduação para o sistema de cotas? Como a cara da universidade brasileira mudou neste período e de que maneira as ações afirmativas asseguraram a oportunidade de ingresso no ensino superior a estudantes que, de outra forma, estariam excluídos da formação universitária? Radis conversou com estudantes negros e negras que ingressaram pelo sistema de cotas, para entender as dificuldades enfrentadas e como as ações afirmativas foram transformadoras em sua vida e ajudaram no combate ao racismo. Ouviu ainda especialistas que estudam o assunto para mostrar como as cotas também ajudaram a modificar todo o ecossistema das universidades.

“Era um sonho distante, talvez impossível, para uma menina do interior, da zona rural de uma comunidade quilombola.”
Graciely Carmo
10 anos depois
O debate sobre as cotas, principalmente com recorte racial, nasceu de discussões propostas pelo movimento negro e venceu a resistência de determinados setores da sociedade e das universidades. Mesmo antes da lei federal, algumas universidades adotaram o seu próprio sistema de cotas, como foi o caso da UFBA, que iniciou a reserva de vagas em 2004. Ainda no início dos anos 2000, outras grandes instituições foram pioneiras ao implementar o processo como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a Universidade de Brasília (UnB).
Assinada pela presidente Dilma Rousseff em 2012, a Lei 12.711 estabeleceu que 50% das vagas para ingresso nos cursos de graduação e técnico deveriam ser destinadas a estudantes oriundos de escolas públicas — uma parcela dessas vagas deve ser preenchida por pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas e por pessoas com deficiência, de acordo com a proporção existente no estado em que se encontra a instituição de ensino. Dez anos depois da implantação, os dados e as histórias de vida mostram como a cara da universidade foi modificada: segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estudantes pretos e pardos passaram a ser maioria nas instituições públicas de ensino superior do país (50,3%) pela primeira vez em 2018. Contudo, continuam subrepresentados, porque correspondem a 55,8% da população.
Ao completar 10 anos da lei, havia a previsão de que ela fosse revista pelo Congresso Nacional. No entanto, a redação não estabelece como esse processo ocorreria e em que condições. Para Jefferson Belarmino, pesquisador do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas (Gemaa), da Uerj, a implementação das cotas nas universidades trouxe mais diversidade para esse espaço e “o grupo mais afetado do ponto de vista positivo foi a população negra”. Para o pesquisador, algo que precisa melhorar é a inserção de outras parcelas ainda socialmente excluídas.
Jefferson ressalta que, em algumas instituições, há ações que contemplam outros grupos, como é o caso da UFBA, em que há reserva de vagas para pessoas transsexuais, quilombolas, indígenas aldeados e refugiados. “Essas políticas tendem a ser mais fortes em contextos em que o quadro burocrático-universitário é mais progressista e onde também existe uma movimentação social organizada que consegue estabelecer um diálogo coeso com as universidades. Mesmo assim, essas políticas são ineficientes no caso desses grupos de pessoas”, avalia.
Foi justamente por meio dessa reserva de vaga, considerada pela UFBA como vaga supranumerária (além daquelas consideradas obrigatórias pela lei federal), que Graciely conseguiu ingressar no Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. A estudante quilombola do interior da Bahia estudou em escola pública durante a vida toda. Depois de realizar a primeira tentativa pelo Enem, não atingiu a média necessária para Medicina. No ano seguinte, tentou novamente e soube desta cota específica para quilombolas. Ao perceber que a nota não seria suficiente para a sua primeira opção, decidiu-se pelo bacharelado. A aprovação no curso de Medicina viria tempos depois.
Ao relembrar o tempo que passou estudando em casa sozinha na expectativa de conseguir entrar na universidade, Graciely ressalta que, desde o início, sabia que seria um caminho difícil. “Era um sonho distante, talvez impossível, para uma menina do interior, da zona rural de uma comunidade quilombola, em situação de vulnerabilidade socioeconômica”, conta. Mas nenhum desses fatores foi suficiente para fazê-la desistir do ensino superior. “Como não tinha condições de pagar nenhum cursinho, eu acabei estudando sozinha em casa e montei meu próprio cronograma. Acordava às oito horas da manhã e só parava de estudar às onze e meia da noite, todos os dias, incluindo os domingos, porque sabia que se não fosse daquele jeito, não conseguiria passar”. Ela também contou com a ajuda de professores de sua cidade e usou livros doados pela escola que não seriam mais utilizados.
Não é só a vaga
Para indígenas aldeados, a dificuldade de acesso é ainda maior. “Os processos seletivos não levam em consideração a realidade indígena. Também há toda o debate decolonial de não só ceder as vagas, mas trazer o conhecimento indígena para o próprio espaço universitário”, explica Jefferson. Esse cuidado com a realidade dos povos originários ainda é pouco observado, segundo o pesquisador, pois a maioria das instituições adota apenas a reserva de vagas obrigatórias pela lei 12.711. “Isso significa que, para esses indígenas entrarem na universidade, eles precisam se submeter ao processo seletivo do SiSU (Sistema de Seleção Unificada), o que dificulta para alguns grupos, especialmente aqueles que são bilíngues e tem alguma deficiência de formação nos níveis fundamentais”, completa.
Uma década de implementação é só o primeiro passo para enfrentar o racismo estrutural e mudar a realidade de famílias antes excluídas do ensino superior, na visão de Cássia Virgínia Maciel, pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA. “São famílias que têm os primeiros membros, depois de gerações, entrando na universidade, ou seja, ascendendo ao conhecimento acadêmico e à obtenção de um diploma para a inserção no mercado de trabalho”, pontua. Cássia vivenciou o potencial transformador das cotas em seu próprio cotidiano: a mulher negra que hoje é pró-reitora da UFBA cursou Psicologia na mesma universidade após ingressar pelo sistema de cotas.
Cássia defende que é preciso não apenas garantir a vaga, mas criar condições para a permanência dos estudantes. “Ações afirmativas não são só reserva de vagas. Existe uma política de acesso que é a reserva, mas também existe a questão da permanência, em que a principal estratégia é a assistência estudantil, seja restaurante, creche, transporte, auxílio-moradia, auxílio-saúde”, atesta.
Graciely é uma das estudantes que recebe o auxílio-permanência. “Eu falo para todo mundo que essa bolsa permanência é realmente o que me permite continuar na faculdade, porque os gastos de uma cidade grande como Salvador nem se comparam ao de uma cidade pequena, principalmente para quem veio de uma vida no interior, com um estilo de vida mais simples”, descreve. Despesas como aluguel, transporte, alimentação, serviço de internet e tantos outros gastos comuns na vida de um universitário dificultariam a sua permanência no curso de Medicina. Para complementar a renda, ao longo de sua jornada acadêmica, ela também se tornou bolsista de iniciação científica e monitoria.

“Com a minha história de vida e minha experiência, é impossível falar que uma cota não faz diferença.”
Daiane Silva
Sonho de ser médica
Outra estudante de Medicina da UFBA, Daiane Silva, de 26 anos, gasta em média duas horas de viagem no trajeto de casa até o campus da universidade. Estudante do oitavo semestre do curso e moradora de Itapuã, ela ingressou pela reserva de vagas para pessoas negras, em 2015, no Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Saúde. A transição para Medicina ocorreu de forma diferente, pois em seu caso ela disputou pelas cotas, mas dentro das 36 vagas que são destinadas para os alunos que obtiveram nota mais alta durante o BI em Saúde.
O sonho de ser uma médica preta formada por uma universidade pública esbarrou no momento mais difícil que viveu na universidade, com a mudança de curso. “Quando entrei para Medicina, senti uma diferença gigantesca, tanto na realidade dos colegas quanto na quantidade de matérias e carga horária dedicada. Não tinha tantos colegas com uma realidade como a minha, seja em renda ou etnia”, afirma a estudante, que planeja cursar Residência em Ginecologia e Obstetrícia. Essa é uma decisão que acalenta desde antes da faculdade, quando já pensava em se tornar uma médica mais empática para ajudar a quebrar o ciclo de violência obstétrica que acomete muitas mulheres, especialmente as negras, na hora do parto, com agressões verbais e até físicas, assim como o uso de procedimentos que já não deveriam ser utilizados.
Graciely também afirma que deseja se tornar uma boa profissional, que pensa muito em sua formação e pretende ser uma médica com um olhar mais humanizado para atender melhor seus pacientes. Ela conta que o seu início em Salvador foi a fase mais complicada do ingresso na universidade. “Era tudo muito novo pra mim. Tinha medo de absolutamente tudo quando eu cheguei aqui: de pegar um ônibus, da entrada e saída da faculdade, de andar na rua e me perder, de não dar conta do conteúdo. Mas sempre fui uma pessoa muito resiliente, então eu sabia que no final alguma coisa daria certo”, ressalta, acrescentando que cursar Medicina sempre foi o seu maior desejo.
A futura médica também afirma que o apoio da família e dos amigos é fundamental para lidar com as dificuldades. “Sempre falo para os calouros que estão entrando na faculdade: ‘Façam amizade com pessoas que te apoiem, porque a faculdade em si é um universo muito bonito, você aprende muito e vivencia muita coisa interessante, mas se quiser fazer isso tudo sozinho você vai falhar, porque é uma carga pesada de estudo e é preciso se doar por inteiro’”, reflete.
Os percalços de uma estudante preta e cotista também incluem a discriminação. Graciely afirma nunca ter sofrido alguma ação de forma direta, mas que já se sentiu constrangida em certos espaços em que outras pessoas defendiam que as cotas são injustas ou que não deveriam existir. “E isso realmente me magoa bastante porque, com a minha história de vida e minha experiência, é impossível falar que uma cota não faz diferença”, afirma. Por tudo isso, ela considera essencial que o espaço universitário seja ocupado por pessoas de diferentes origens sociais. “A dificuldade é real e diária, mas a gente dá a mão ao outro e se apoia, justamente por saber que vamos conseguir continuar nesse espaço, que é nosso também por direito”.
Na universidade, Daiane já ouviu alguns professores falarem que o nível da faculdade caiu depois da entrada de cotistas. De acordo com Jefferson, a contestação das cotas ainda está presente no ambiente universitário e é uma situação relatada por alunos que ele entrevistou durante as pesquisas desenvolvidas no Gemaa, da Uerj — um dos principais núcleos de estudo sobre as ações afirmativas. “Existe uma pressão muito grande para eles terem um bom aproveitamento na universidade. Então, eles relatam que um dos modos indiretos utilizados pelas pessoas contrárias às cotas é questionarem a sua capacidade em termos de conhecimento”, aponta. Segundo o pesquisador, existe um embate intenso, sobretudo com professores. “Essa é uma pressão cotidiana que bate muito forte na vida deles e que causa bastante sofrimento, inclusive psicológico”, afirma.
Mesmo depois de 10 anos das cotas terem se tornado obrigatórias por lei federal e de inúmeros estudos apontarem o desempenho similar de alunos cotistas e não cotistas, ainda há aqueles que afirmam que o sistema de cotas “baixou o nível” das universidades — esse era um argumento já adotado antes da criação da lei, dizendo que os cotistas, em tese, chegariam mais despreparados, sobretudo para os cursos de ciências exatas. “Dados da Uerj mostram, que no quadro geral, as notas são bastante parecidas e que, para além disso, existem estudos bastante consistentes que indicam que os estudantes cotistas tendem a desistir menos dos cursos que os não cotistas”, aponta o pesquisador.
Para a pró-reitora da UFBA, o engajamento não é apenas do estudante cotista como também das famílias que se esforçam para que os alunos consigam completar os seus cursos; em contrapartida, estes também se sentem empenhados por causa da luta histórica para que eles pudessem ocupar aquele lugar. Para estudantes negros, indígenas, oriundos de escolas públicas e de outros segmentos marginalizados, a vaga é um direito conquistado. “Geralmente os alunos cotistas concluem o curso no tempo mínimo ou médio, exatamente pela expectativa de fazer jus ao seu direito, mas também para ter logo um retorno para dar às suas famílias”, conclui.

Nunca houve, de fato, uma política pública para essa população após a abolição da escravidão.
Nauê Pinheiro
Luta contra o racismo
Nauê Pinheiro ingressou no curso de Ciências Políticas da UnB em 2009, poucos anos após a implementação do sistema de cotas na universidade. Oriundo de Brasília, sempre estudou em escola pública e frequentou a universidade quando a presença de pessoas não brancas entre o alunado ainda era rara, especialmente em cursos como Direito e Medicina. Percebia as dificuldades dos colegas que estavam na mesma condição que ele. Apesar de ter conseguido participar de projetos da universidade, também precisou trabalhar para complementar a renda até conseguir um estágio.
“A oportunidade de estudar na UnB atravessa completamente o meu caminho, inclusive dentro da minha atuação profissional hoje na área de Direito, e me abriu muitas portas — portas que não sei se teriam sido abertas em outros locais”, relata. Nauê atualmente é advogado e cientista político, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e professor universitário.
Inúmeras situações de discriminação pelas quais passou — muitas delas veladas —foram responsáveis por despertar a sua consciência sobre o racismo estrutural. Após a primeira graduação, em Ciências Políticas, a entrada no mercado de trabalho foi dificultada por seleções que fluíam bem até chegar a hora da entrevista, quando era dispensado. Para Nuaê, hoje também assessor jurídico do Observatório do Clima, o programa de cotas “jogou o racismo estrutural brasileiro na cara das pessoas”. “Quem quis enxergar, enxergou. E muitos começaram a se perguntar porque essas pessoas não circulavam nesses espaços antes. A resposta é que nunca houve, de fato, uma política pública para essa população após a abolição da escravidão”, analisa. Outra questão apontada por ele é que a sub-representação no corpo docente diz muito sobre o tamanho do problema.
Por algumas vezes, durante nossa entrevista, Daiane usou o termo “situações indesejadas”, para falar de acontecimentos que ainda mostram como a discriminação atravessa o espaço universitário. Por um semestre inteiro, a futura médica foi confundida insistentemente por um professor que nunca conseguiu “aprender” o nome dela. O professor insistia que ela e outra menina negra da turma se pareciam, apesar do biótipo totalmente diferente, como altura, volume corporal e cabelo. “No último dia de aula, ele ainda trocava o meu nome com o dela. E na mesma turma tinham quatro meninas com o mesmo perfil: todas brancas, altas, magras e com o cabelo preto e ele nunca as confundiu. Nesse dia, a gente falou: ‘Professor, por favor, faça pelo menos um esforço para gravar os nossos nomes’”, relata.
A questão do racismo estrutural, que faz com que muitos sejam invisibilizados, também já atingiu Cássia Maciel mesmo na posição de pró-reitora. “Pessoas já abriram a porta da minha sala e perguntaram: ‘Cadê a pró-reitora?’ Existe algo relacionado com a questão de gênero e racial, porque há uma informação exposta minha, que é o meu corpo. Por que as pessoas acham que esse corpo não pode ocupar esse lugar?”, questiona.
Para combater um problema social grave como o racismo dentro do espaço universitário público, é preciso que a instituição primeiramente reconheça o problema. Essa é a visão de Nauê, que acredita que as universidades devem se esforçar para conhecer muito bem qual o seu público — “como se deu a chegada das pessoas naquele local, como elas se enxergam e como é o investimento nas políticas de permanência”. “É preciso sempre buscar dados para saber como agir, porque é um problema que vai mudando de acordo com a própria sociedade”, avalia. De acordo ele, ataques ocorridos nas universidades precisam ser reconhecidos, combatidos e punidos.
Esperança para o futuro
Após o marco da implementação das cotas e o avanço nas ações afirmativas nas universidades, algo é consenso entre todos os entrevistados: esse é um processo muito importante para a sociedade brasileira, que ainda está em andamento. Ainda há muito a ser melhorado, mas é cedo para se falar em revogação. “O impacto pode ser muito maior. Por isso, precisamos que as próximas gerações também tenham as suas vagas garantidas na universidade em função disso”, afirma Cássia Maciel.
Segundo a pró-reitora, com o impacto positivo dessas medidas em diferentes gerações, será possível também ampliar a diversidade no quadro docente. “É uma diversidade de composição que interfere de modo positivo diretamente no tipo de conhecimento e serviço que a universidade presta à sociedade”, afirma.
Já Nauê acredita que o sistema de cotas precisa vir acompanhado de uma série de outras políticas públicas que consigam ir até a base, “porque se parto do pressuposto de que as pessoas negras são prejudicadas no seu início, dificilmente a gente vai conseguir corrigir essa distorção só na fase da universidade”. Para ele, também é preciso desenvolver estudos e medidas para combater as fraudes, que ainda ocorrem [Leia BOX sobre a heteroidentificação clicando aqui].
As maiores dificuldades enfrentadas para a continuidade das ações afirmativas nas universidades públicas, para Jefferson Belarmino, são os cortes sofridos pela educação, pois muitas bolsas de permanência estão sendo descontinuadas. “É importante que exista todo um aparato que não se resuma só reservar as vagas, pois é necessária uma rede de sustentação para que essas políticas sejam mantidas”, analisa. Segundo o pesquisador, os cortes também refletem em questões como reforma curricular e não apenas nos programas de assistência estudantil.
Outro desafio, segundo Jefferson, é que existe a demanda por maior diversidade no quadro docente nas universidades. Muitos alunos ouvidos por ele em pesquisa relatam o desejo de ter mais professores negros na universidade, assim como uma abordagem nas disciplinas com a introdução de métodos decoloniais, ou seja, “mais autores negros e mais perspectivas que não sejam apenas eurocentradas”. No entanto, Belarmino vê que essa questão ainda está “cambaleante”, pois é preciso repensar as ações afirmativas para a entrada destes professores.
Como saldo positivo, ele avalia que é possível que o sistema de cotas possa modificar o quadro dos professores a longo prazo. Outra reflexão é que a cota é um assunto que não fica restrito apenas “a reserva ou não de vagas na universidade”. “Há todo um conjunto de questões que vem junto com elas, como por exemplo, a própria conscientização sobre racismo”, reflete. Segundo o professor, os alunos levam esse debate para suas casas e começam a compreender como esse fenômeno faz parte da vida deles após a entrada na universidade.
Daiane acredita que o programa de cotas tem sido fundamental não apenas para mudar a vida do aluno, como também a realidade das famílias — e isso impacta toda a sociedade. Como ponto que precisa ser melhorado, ela reflete sobre as brechas que ainda dão margem para os falsos cotistas. “Literalmente, eles acabam roubando a vaga de pessoas que deveriam estar ali e também a possibilidade de mudança em uma família. É muito comum a gente ouvir que o aluno foi o primeiro da família a se formar em uma universidade. Ele consegue alcançar um espaço na sociedade e muda a realidade daqueles à sua volta”, pondera.
A futura médica tem consciência de que o caminho após se formar aguarda desafios como possíveis situações racistas em que os pacientes possam confundi-la com outros profissionais ou mesmo recusar o seu atendimento. Mas ao mesmo tempo, sabe que também outras pessoas “ficarão extremamente felizes ao ver alguém que tem as mesmas feições e traços em uma posição que a gente considera privilégio”. “É muito bom a gente ter a oportunidade de atender pessoas que olham pra você e dizem: ‘Nossa, você parece minha sobrinha; você parece a minha filha’ ou olha pra filha e fala: ‘Está vendo, filha, quero que você seja como ela’”, diz, emocionada. “Estou estudando para oferecer o melhor à minha população, independente de qual cor seja, de qual etnia ou faixa salarial”.
Já Graciely conta que a vida na universidade mudou bastante o seu modo de pensar: “Aprendi muito e hoje em dia sou uma pessoa mais crítica. Quebrei vários tabus, conheci mundos diferentes e isso é algo que não tem preço”, resume. Na visão de Graciely, a política de cotas é a possibilidade de reparação para todos aqueles que vivem em uma situação de vulnerabilidade sócio-econômica, pois acredita que todos têm sonhos. É uma política “essencial para que pessoas como eu realmente possam vivenciar esse espaço que é a universidade pública”. “Muitas pessoas não acreditam que é possível uma mulher quilombola preta cursar Medicina em uma universidade federal. Então essa é uma das maiores alegrias da minha vida: saber que eu sou uma referência na minha comunidade, que eu sou a primeira estudante de Medicina da comunidade remanescente de quilombo de Campo Grande e que serei a primeira médica da minha família”, finaliza.







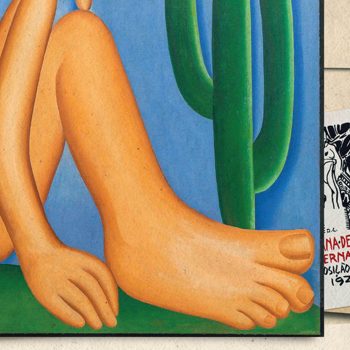




Sem comentários