
“Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud — a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama.”
(Oswald de Andrade, em Manifesto Antropofágico, 1928)
Um dos marcos do Modernismo brasileiro, o Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade em 1928, registrou de modo metafórico o desejo de um grupo de artistas da época em se contrapor ao determinismo colonial que valorizava a assimilação cultural estrangeira. O grupo propunha uma nova visão da cultura nacional, construída a partir do diálogo crítico entre elementos nativos e a crescente industrialização mundial — em outras palavras, “digerir” o que vinha de fora, acrescentando e misturando às manifestações genuínas brasileiras, naquele momento vistas como populares e, por isso, inferiores.
100 anos depois, o espírito “antropofágico” inspirou pautas e propôs questionamentos colocados no 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, organizado a partir do tema central Democracia, antropofagias e potências da luta antimanicomial. Em sua primeira versão presencial desde a pandemia de covid-19, o evento foi marcado pela reafirmação e atualização de pautas políticas e sociais e seus impactos na saúde mental, especialmente as propostas pela Reforma Antimanicomial, bem como pela afirmação da arte como elemento essencial na reconquista de espaços e na luta contra retrocessos. O congresso reuniu 3 mil pessoas, teve mais de 740 trabalhos inscritos, promoveu 60 rodas de conversa e 23 minicursos.
“Queremos avançar e construir uma política inclusiva de saúde, neste momento de diálogo, escuta e abraços”, sinalizou Sonia Barros, vencedora do prêmio Nise da Silveira de boas práticas e inclusão em saúde mental, na abertura do evento, no auditório da Universidade Paulista (Unip). A cerimônia, que reuniu especialistas, políticos e ativistas da saúde mental, também contou com uma homenagem às vítimas da covid-19 e reforçou a defesa da democracia como condição essencial para a construção de uma política de saúde mental inclusiva.
Presidente emérito do congresso, o sanitarista Paulo Amarante destacou que a democracia deve ser instrumento de garantia de participação da sociedade nas questões de saúde, para que as políticas sejam organizadas não “para” os usuários, mas sim “com” eles, e lembrou dos 40 anos da Reforma Psiquiátrica. “É uma alegria estar vivo, estar resistindo, estar lutando”, emocionou-se, sob o aplauso entusiasmado da plateia.
“Não é hora de hesitar. Esse congresso é um processo de mobilização e de enunciação coletiva em defesa da universalidade dos direitos”, registrou o sociólogo Léo Pinho, presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme), organizadora do evento. “Nós queremos construir um novo Brasil com o SUS, o maior sistema de promoção dos Direitos Humanos no país”, convocou a audiência, criticando a “contrarreforma psiquiátrica” que está em curso.
Sua crítica se dirigiu de forma mais contundente às chamadas comunidades terapêuticas — que, para ele “nem são comunidades e nem são terapêuticas, mas sim instrumentos de exclusão” —, ao financiamento de leitos psiquiátricos nas instituições privadas, ao eletrochoque e às redes de ambulatórios de saúde mental, estratégias cujo objetivo, afirmou, é “lucrar com o sofrimento das famílias”.
Para Léo, a medicalização social e a rotulagem do diagnóstico são contrapontos aos direitos humanos, ao protagonismo e ao empoderamento das pessoas. O que defende, acentuou, aponta outro caminho. “Não estamos aqui apenas para dizer não, mas para afirmar um projeto de país”, ressaltou, propondo um compromisso com um novo modelo de cuidado, do cuidado em liberdade.
Um caminho a ser trilhado e construído por meio da arte e da inclusão do sofrimento e da loucura como partes essenciais da vida, como sinalizou a filósofa e psicanalista Viviane Mosé, uma das palestrantes do evento [Leia entrevista aqui]]. Arte como potência, democracia como caminho, liberdade como modo de cuidado, temas que mobilizaram as discussões que aconteceram nos três dias seguintes. Um encontro que incluiu na agenda “a contribuição milionária de todos os erros”, como afirmou há quase um século Oswald de Andrade.
Radis se inspirou nos escritos de Oswald e nas criações de outro artista brasileiro, Arthur Bispo do Rosário, para apresentar a compilação de alguns destaques do congresso. Os títulos que entremeiam esse texto foram retirados do Manifesto Antropofágico ou de criações de Oswald de Andrade. A partir das obras reunidas em Bispo do Rosário — Eu vim: Aparição, Impregnação e Impacto, exposição que fica em cartaz de maio a outubro de 2022 no Itaú Cultural, em São Paulo, a reportagem sugere roteiros que registram a potência da criação libertária contra a opressão dos manicômios e de outros retrocessos que precisam ser ressignificados.
“A luta pelo caminho”: Democracia, o determinante esquecido
Na conferência que abriu o congresso, o ex-ministro da Saúde, o sanitarista José Gomes Temporão destacou que, a despeito (e por conta) dos ataques que sistematicamente sofrem neste momento, democracia, saúde e saúde mental são temas centrais para o futuro da nação e que merecem toda a atenção. Para ele, o ponto de inflexão entre os campos é o período da ditadura militar, quando surge a Reforma Sanitária, nos anos 1970.
Naquele momento, pontuou, circulavam novas ideias sobre as relações entre saúde e sociedade, quando movimentos sociais emergentes e diversos começaram a trabalhar o conceito ampliado de saúde, associando-o diretamente à defesa da democracia. “Saúde é democracia e democracia é saúde era a nossa força motriz”, rememorou, salientando que hoje a discussão sobre os temas se atualiza dadas as ameaças dirigidas às conquistas relacionadas à Constituição de 1988.
“A democracia é fundamental para a saúde e se expressa, entre outras dimensões, na liberdade de organização, na liberdade de manifestação e de opinião, na luta cotidiana pela saúde e por seus determinantes”. Temporão acentuou que também é possível compreender a democracia como dispositivo, ainda que imperfeito, que favorece o desenvolvimento das potencialidades do ser humano. Portanto, um “dispositivo terapêutico para sociedades que sofrem de autoritarismo e coerção”. O ex-ministro destacou a imensa contribuição dada pelo SUS para a legitimação de mecanismos de democracia direta, por meio dos instrumentos de controle social, como conselhos e conferências — experiência que se disseminou em diferentes áreas do Estado brasileiro.
Temporão revelou ter encontrado poucas reflexões teóricas entre democracia e saúde mental, mas citou o estudo Democracia, o determinante esquecido da saúde mental, revisão publicada por Marilyn Wise e Peter Sainsbury em 2008, quando os autores registraram pesquisas que relacionavam, entre outros aspectos, participação eleitoral e expectativa de vida, direitos humanos e mortalidade infantil, participação em políticas públicas e mortalidade materna.
Entre outros achados importantes, a revisão aponta, segundo ele, que quanto maior é a participação do cidadão na vida política, maior é sua qualidade de vida; quanto mais direitos democráticos e individuais ele tem, mais oportunidades tem de participar; e quanto maior a participação na política real e a autonomia dos governos locais, mais altos serão os níveis de felicidade das pessoas e de satisfação com a vida.
Temporão acentuou: “O estudo encontrou evidências históricas, teóricas e empíricas de que a democracia é benéfica para a saúde em geral e para a saúde mental, em particular”. Por outro lado, os pesquisadores também identificaram que a democracia até agora não conseguiu promover, em termos globais, equidade; também demonstraram que o papel da democracia na promoção da saúde é frequentemente esquecido.
O sanitarista alertou para os meios furtivos que atentam em favor do colapso da democracia, muitos deles imperceptíveis, destacando em contraponto o potencial que democracias sólidas têm na promoção da saúde, em especial da saúde mental. Diante destas constatações, ele indicou que é possível estabelecer “a democracia como pré-requisito para alcançar a saúde ideal, assim como um método por meio do qual a saúde pode ser melhorada”.
E em uma via inversa, ele questionou: Qual a importância da saúde como conquista e manutenção da democracia? Temporão citou o psicanalista inglês Donald Winnicott (1896-1971), para quem o modo de vida democrático só será possível em uma sociedade composta por indivíduos saudáveis, maduros e capazes de criá-lo, recriá-lo e mantê-lo. O ex-ministro defendeu o voto livre e secreto como instrumento de avaliação do indivíduo — e, portanto, da própria sociedade. “Essa capacidade de influência de cada um sobre o todo e deste sobre todos e cada um”, assinalou, é característica importante do desenvolvimento de uma sociedade — e do próprio indivíduo ao longo da vida.
O ex-ministro citou a seguir estudos que apontam a necessidade de eliminar as privações de liberdade que limitam as oportunidades e as escolhas das pessoas, de modo que elas possam exercer a sua condição de cidadania. Se a saúde é desejável — e resultado da construção da maturidade —, é preciso reconhecer que um dos fatores essenciais de sua garantia “repousa no lar comum, nas suas mais diversas configurações, e nas relações de afeto e de cuidado que venham a constituir vínculos potentes sobre os quais transitem a confiança de todos os seus familiares envolvidos”, indicou.
Para Temporão, é importante atentar para as consequências da falta de condições de boa criação de crianças e jovens para o futuro de uma sociedade e de uma democracia. “Se os indivíduos afetados forem a maioria, a própria sociedade corre o risco de adoecer”, alertou. Segundo ele, o que Winnicott propõe, quando fala em “ambiente emocional facilitador do desenvolvimento”, se aproxima do que aponta o teólogo brasileiro Leonardo Boff, quando fala em “cuidado essencial”. Um cuidado que a tudo antecede e que se apresenta envolvendo as relações de forma afetuosa, devotada e não burocrática.
Ao trazer a discussão para a realidade brasileira, o sanitarista considerou importante discutir os impactos dos determinantes sociais da saúde na manutenção deste ambiente facilitador sobre quem cuida e sobre quem é cuidado, o que nos levaria a perceber a dramática situação existente em nosso país e que se projeta para o futuro.
Ele considerou alguns números: no Brasil, 44,5% das crianças e adolescentes, com idades entre zero e 14 anos, vivem com rendimento familiar per capita de até meio salário-mínimo. Segundo o IBGE, 14% dos bebês nascidos no Brasil em 2020 foram de mães adolescentes, o que corresponde a 381 mil crianças; estudo de 2022 registra múltiplos sinais de violência física e simbólica na população brasileira entre 15 e 18 anos. “Os dados mostram como o Brasil é um país hostil com a geração sobre a qual repousa seu futuro”, avaliou.
Temporão também chamou atenção para o anúncio da OMS sobre o qual estaríamos vivendo uma segunda pandemia de saúde mental, com altos registros de casos de suicídio e de ansiedade, em parte motivados pela pandemia de covid-19. “A vida, a saúde e a democracia estão em risco”, reconheceu. Criticou também as recentes medidas que fragilizam as estruturas da Reforma Psiquiátrica e conclamou a audiência a resgatar as utopias que fazem da saúde a potência de transformação da sociedade. (ADL)
“A alegria é a prova dos nove”: a potência da arte
O auditório ainda estava enchendo na tarde de sábado quando os integrantes do Coral Cênico Cidadãos Cantantes entoavam suas primeiras músicas: “Se eu não calo tua voz porque tu calas a minha? / Minha palavra não quer censura / Pois toda poesia cura”. Enquanto o público tomava assento, também um componente aqui, outro ali, subia ao palco para engrossar o coro de pessoas com sofrimento mental, em situação de vulnerabilidade e população em geral, unidas pelos Centros de Convivência e Cooperativa da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo.
“Sonhar mais um sonho impossível / Lutar quando é fácil ceder / Vencer o inimigo invencível / Negar quando a regra é vender / Sofrer a tortura implacável / Romper a incabível prisão / Voar num limite improvável / Tocar o inacessível chão / É minha lei, é minha questão / Virar esse mundo, cravar esse chão / Não me importa saber se é terrível demais / Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz”, solou uma das cidadãs cantantes, antes de receber uma ovação de pé.
A arte estava espalhada por todo o congresso, em farta programação cultural, que incluía de mostra de filmes à feira de artesanato — desenvolvidas por aqueles que em geral estão excluídos. “Nos eventos da Abrasme, a arte não é vista somente como entretenimento ou terapia, mas também como intervenção política emancipatória”, explicou Paulo Amarante. “No campo da saúde mental, a arte é um instrumento de produção de outros significados em uma arena não governada pela racionalidade formal, previamente negociada pelo acerto social, e por isso propicia a liberdade de transformar as coisas”.
As experiências com música, teatro, cinema, artes plásticas e outras formas de manifestação artística são, para Amarante, estratégias de diálogo com os que passam por sofrimento psíquico: “Quando o sujeito que passa por situações de constrangimento produz uma poesia a partir desse lugar, ele faz ver a sociedade como a sociedade o vê”. Um exemplo citado por ele é a composição Sufoco da Vida, do cantor Hamilton Assunção, integrante do Harmonia Enlouquece — grupo do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. “Estou vivendo no mundo do hospital / Tomando remédios de psiquiatria mental / Me amarram, me aplicam / Me sufocam num quarto trancado / Socorro, sou um cara normal asfixiado”.
No dia anterior, em uma sala tomada por estudantes, pesquisadores e curiosos, a psicóloga e sanitarista Cris Lopes, uma das fundadoras do coral, lia o Manifesto poético antropotrágico, texto que confirmava o que avaliou Paulo Amarante e que convidava os ouvintes ao “início de uma saudável insensatez”: “Nossa arte-manifesto é um pacto pelo direito à verdade, a justa medida, sem negociatas, artistas do improvável que somos, não nos renderemos ao arqueiro antidemocrático”, diz o texto [Leia o texto completo no site da Radis].
Na fala que fez na mesa Antropofagias e insurgências: arte, cultura e práticas emancipatórias, Cris recorreu a outro autor do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade (1893/1945), para requerer o lugar da “verdadeira saúde mental desvairada” (uma paráfrase ao título do livro Pauliceia Desvairada, publicado por Mário em 1922), uma proposta de vida saudável baseada na diversidade e na liberdade. “A liberdade se faz e se fará aqui e agora na lida das desigualdades não naturalizadas, no cuidado da dor poetizada em nossa brasilidade”, defendeu.
Ela recorreu às metáforas para relacionar a antropofagia oswaldiana à potência positiva da arte, como instrumento de convivência com o diverso (e com a loucura) e de insurgência contra as desigualdades: “Antropofagiar é engolir o que está fora para fazer parte do dentro. Abaporu de 2022 é a chance de ver no outro, esquisito, o que é seu, é engolir a estranha loucura para se familiarizar com ela e identificá-la tão avizinhada, familiar e assim se potencializar de sua força”, recitou.
Deste modo, apresentou a experiência dos Cidadãos Cantantes, que completa 30 anos em 2022, como uma “oportunidade delirante da escuta múltipla de vozes como matéria-prima da criação e não do estranhamento, da repulsa, da vergonha e da medicalização”. Cris explicou que o coral, que hoje funciona de modo autônomo, promove ensaios semanais gratuitos na região central da cidade de São Paulo, abertos a qualquer interessado, independente de escolaridade, religião, raça, etnia, gênero, conhecimento musical, condição social ou de saúde.
“Um espaço de criação artística, tendo a arte como objetivo fim e não meio, com indiscutível alcance transformador de cidadania e gosto pela vida, um alcance que pode ser cunhado como terapêutico”, acentuou a sanitarista, enaltecendo o compromisso antimanicomial da iniciativa a partir da polifonia de vozes, união que desperta a potencialidade criativa de cada um de seus integrantes, sem necessidade de adjetivação do outro para ter valor. “Sobretudo para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e de saúde, reafirma-se a importância da identidade cunhada em seus nomes, sonhos, projetos e laços sociais, não adjetivada pela nosologia, renda ou aspecto estigmatizante”, destacou.
Somos feitos de falhas
“Eu estou aqui como usuária”, anunciou a filósofa e psicanalista Viviane Mosé, também convidada a falar na sessão. Ela explicou que desde criança convive com a dor e o sofrimento, o que muitas vezes a levou a situações de descontrole. “Eu escuto vozes”, revelou, indicando que, apesar das dificuldades, conseguiu configurar sua loucura e vendê-la como poesia e pensamento. “Eu falo coisas lindas porque sou vazada, atravessada pelas coisas que vivo. Isso é insuportável, mas é lindo. Só eu sei o preço que pago”, argumentou.
Em uma fala entremeada de poesias recitadas de cor, a filósofa defendeu que é preciso reconhecer que todos somos feitos de falhas e que a ideia de identidade é irreal: “Nós somos feitos de metáforas e palavras”, defendeu. Retomando os temas que discorreu na entrevista exclusiva que havia concedido à Radis mais cedo [Leia na página XX], Viviane fez uma crítica contundente à defesa que se faz da razão cartesiana, explicando que o conceito “doença mental” é derivado da ideia de “desrazão” — criada para nos levar a acreditar em verdades estabelecidas, cujo objetivo é o controle social.
A filósofa desconstruiu aspectos históricos dos conceitos de verdade e de razão, reivindicando o direito coletivo ao delírio. “Eu sinto, logo existo”, provocou, numa crítica declarada à máxima do pensador francês René Descartes (1596-1650), “Penso, logo existo”. Para a filósofa, o pensamento cartesiano cria uma subjetividade baseada na razão, algo que se opõe aos afetos, ao sagrado e à arte. “É aí que nasce a exclusão dos loucos”, argumentou, citando o filósofo francês Michel Foucault.
Ela defendeu o resgate da “dignidade da loucura e do direito ao delírio”, criticando as estratégias de psicofarmacologia em “domesticar” o sofrimento. “A vida não é uma doença, a vida é um lugar onde se sofre muito. Pessoas em sofrimento psíquico, como eu, sofrem muito mais”, declarou, revelando que a aproximação de sua família com as manifestações culturais foi importante no processo de aceitação de sua condição. “A arte foi quem de fato me salvou”, revelou, indicando que a dor do usuário dos serviços de saúde é necessária, desde que seja canalizada para algum processo de vida (ou de arte). “Isso é uma grande antropofagia”.
Neste sentido, ela defendeu que as pessoas devem ser consideradas em seus fluxos e com seus desequilíbrios — que são fontes de criação e, quando não vividos, se transformam em doenças. “A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abcessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, são poemas sem vazão”, definiu. E repetiu: “Sofrimento faz parte da vida, do humano, mesmo que não queiramos sentir”. Inclusive em supostas condições ideais de vida, com direito à arte, o sofrimento estaria presente, afirmou, lembrando que a arte não existe para “enfeitar” a vida. “Isso é entretenimento”, refutou.
A sociedade secreta
Um dos autores do documentário Sociedade Secreta (2008), que retrata as mudanças na Saúde Mental por meio do cotidiano do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Itapeva, no centro de São Paulo, o cineasta e ativista Kayky Avaharam também fez questão de se se apresentar como usuário, quando fez um relato muito emotivo de sua trajetória até aquele momento. Curador da mostra de cinema em cartaz no congresso, Kayky frequentava o Caps, em 2007, quando foi convidado para gravar algumas cenas por Juliana Vettore e Murillo Camarotto, que dirigiam o filme. Recebeu uma câmera e, ao fim, se tornou um dos protagonistas e coautor do filme.
Ele contou que foi a partir dessa experiência que ele se aproximou do mundo do audiovisual e da arte. Muito emocionado, pediu a Viviane Mosé para que lesse um texto que escreveu para o catálogo da Ocupação Nise da Silveira, promovida pelo Itaú Cultural, em 2017, em que discutiu arte e loucura, e narrou episódios de sua vida.
“Vejo que a loucura me tirou uma vida considerada normal nos padrões atuais e que obtive alguns prejuízos dos quais não consigo me recuperar”, disse no texto, em que contou sobre o encontro com o cantor e compositor Raul Seixas, quando foi internado pela primeira vez, aos 14 anos. Na ocasião, o compositor teria lhe dito: “Bem-vindo à sociedade secreta”. “Naquele momento, nada fez nenhum sentido para mim”, disse Kayky, que afirma ter entendido, muitos anos e internações depois, o que Raul queria dizer.
“Os chamados ‘loucos’ pela sociedade moderna são verdadeiros mártires da história, pois estão presos sem ter cometido nenhum crime, confinados em muralhas físicas e mentais, desprovidos de liberdade e vivendo em sofrimento constante”, escreveu, no texto em que criticava a sociedade da depressão e da estética por aprisionar aqueles que fogem do padrão e elogiava a mudança de paradigma representada pela Reforma Psiquiátrica.
E concluiu seu texto dizendo: “Como usuário do Caps Itapeva, vejo a necessidade de buscar novas tecnologias no tratamento e incentivar a produção artística, único meio capaz de transformar as fases de euforia em verdadeiras obras de arte e os momentos de baixa, como a depressão, na criação de músicas e poesias. Se hoje estou estabilizado, foi graças ao poder da arte”.
Bastante aplaudido pelo público que lotava a sala, ele disse que a curadoria artística do congresso tinha o objetivo de despertar o desejo de experimentar a arte como instrumento de tratamento, e convidou os participantes a conhecer a Ocupação Bispo do Rosário, em cartaz naquele momento, em São Paulo, para a qual organizou uma visita guiada no último dia do evento. (ADL)

Bispo do Rosário: arte é arte
O artista plástico Arthur Bispo do Rosário, que viveu por cerca de 50 anos na Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, exercitou a liberdade de criação artística dentro de um dispositivo repressor da liberdade. Nascido em Sergipe, Bispo do Rosário se mudou aos 14 anos para o Rio de Janeiro, onde trabalhou e lutou boxe. Em dezembro de 1938, se apresentou no Mosteiro de São Bento como juiz dos vivos e dos mortos, e foi diagnosticado como esquizofrênico-paranoico.
A alguns poucos quilômetros do espaço em que se realizou o congresso da Abrasme, sua obra está em exposição, na sede do Itaú Cultural, na Avenida Paulista. Bispo do Rosário – Eu Vim: Aparição, Impregnação e Impacto abriu em 18 de maio (Dia Nacional da Luta Antimanicomial) e segue em cartaz até 2 de outubro. Bordados em mantos, esculturas, vestimentas e objetos ressignificados por ele estão apresentados ao lado de trabalhos de artistas modernos e contemporâneos.
Um núcleo da exposição registra o impacto e a impregnação de sua produção entre seus pares, a ponto de abrir novas possibilidades no modo de fazer arte. Um segundo núcleo apresenta experiências artísticas realizadas em ateliês de instituições psiquiátricas brasileiras, que fizeram repensar o funcionamento desses lugares e geraram outros nomes de referência na arte brasileira — como o dos integrantes do Ateliê Gaia, coletivo formado por pessoas que tiveram passagem pelo serviço de saúde mental da Colônia Juliano Moreira.
Amarante conheceu Bispo e o toma como exemplo para frisar que arte é arte: “Ele influenciou a arte mundial, superando a ideia de classificação da arte em sana ou insana, degenerada, naif, bruta”. Os curadores da exposição, Ricardo Resende e Diana Kolker, reforçam, em texto de apresentação, que a obra do artista “não pode ser assimilada com as ferramentas da história da arte ocidental; ao contrário, ela desafia o próprio conceito de arte moderna e abre caminhos na contemporaneidade, instaurando um novo campo de possibilidades estéticas e éticas”. É o chamado “efeito Bispo”. (BD)
“Morte e vida das hipóteses”: redefinindo o normal
Na véspera do início do congresso, 20 de julho, a publicação de um artigo que desmonta a associação direta entre desenvolvimento de depressão e baixos níveis de serotonina caiu como uma bomba na psiquiatria. A chamada teoria do desequilíbrio químico teve origem nos anos 1960 e ganhou força a partir dos anos 1990, impulsionando o tratamento deste quadro com medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS).
“Sugerimos que é hora de reconhecer que a teoria da depressão por serotonina não está empiricamente fundamentada”, escreveu a psiquiatra Joanna Moncrieff, líder da equipe de pesquisadores da University College London, no periódico Molecular Psychiatry. Na revisão sistemática de décadas de estudos científicos, os autores observaram que há poucas evidências de qualquer anormalidade de serotonina em pessoas com depressão. Em alguns testes, participantes foram submetidos a métodos para diminuir artificialmente os níveis de serotonina e, ainda assim, não desenvolveram quadros depressivos.
A hipótese de que a serotonina é um biomarcador da depressão não se comprovou pelo oposto, explicou à Radis o psiquiatra Paulo Amarante, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz) e presidente de honra da Abrasme: pessoas com depressão podem ter problemas de captação de serotonina, mas pessoas com problemas de captação de serotonina não têm depressão. Para ele, “a psiquiatria argumenta ter um modelo biomédico do transtorno mental para ganhar legitimidade e escuta enquanto ciência, mas ela não o tem”.
O que chamamos hoje de transtorno foi primeiro nomeado alienação mental, pelo fundador da psiquiatria moderna, o médico francês Philippe Pinel, termo que mais tarde seria substituído por degeneração (o que foi gerado com defeito, mal gerado). Doença, apostou o pesquisador, seria a palavra escolhida se houvesse um fundamento da normalidade. Como não há, enraizou-se transtorno, abrigando tudo que está fora do previsto. Deriva de torno (forma): o avesso do torno, uma deformação. Em inglês, fala-se mental disorder (desordem mental): o distúrbio da ordem. Mas qual é a ordem?
“A psiquiatria conduziu estudos anatomopatológicos do cérebro para encontrar a origem orgânica dos transtornos mentais, mas não encontrou porque não existe. Então passou a estudar os aspectos neuroquímicos, no nível das sinapses, e os novos neurocientistas estão mostrando agora que essa abordagem é outra farsa”, comentou o pesquisador, para quem o reducionismo organicista biológico é o pior das ciências.
Na Classificação Internacional de Doenças, publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não há embasamento para a definição de transtorno mental. Nenhum texto, ressaltou Amarante, refere-se às pessoas como “transtornadas mentais” ou “doentes”, porque isso denotaria o caráter moral de julgamento, denunciaria a opressão.
Assim como repetimos o tempo todo que saúde não é a ausência pura e simples de doença, a nova pauta é pensar a saúde mental não como o oposto do transtorno. “A psiquiatria não precisa patologizar para cuidar”, defendeu Amarante. “É possível uma psiquiatria do sadio, uma psiquiatria da vida”, indicou ele. A psicanálise foi citada como exemplo de que não é necessário um diagnóstico para fazer as pessoas refletirem sobre seus conflitos, elaborarem suas dificuldades. “O sofrimento mental é necessário ao ser humano, não há vida humana sem sofrimento, mas em hipótese alguma isso é transtorno, doença, enfermidade”, ressaltou. “O normal requer o sofrimento”.
Ideal compulsório
Alexandre Mapurunga, diretor técnico da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas (Abraça), composta e liderada por pessoas autistas, alertou que a sociedade está estruturada nos conceitos de corponormatividade (que considera corpos “normais” aqueles que não apresentam deficiências) e neurotipicidade (que considera mentes “normais” as não que possuem nenhuma neurodivergência), hierarquizando as pessoas com base na percepção de capacidade — o chamado capacitismo.
“É um ideal compulsório, que nos obriga a performar normalidade. Aqueles que não performam são punidos com a indignidade, com a abjeção, com a invisibilidade, são estabelecidos como seres desviantes no mundo”, indicou ele, ressaltando que todos nós vamos falhar nessa percepção do que é ser normal.
Uma das facetas do capacitismo, segundo Alexandre, é a hegemonia do discurso médico normalizador, que retira das pessoas sua dignidade inerente, sua autonomia, as possibilidades de se expressarem e de serem levadas em conta: “Ainda são poucas as arenas em que é garantido o protagonismo das próprias pessoas autistas para que falem de sua pauta, inclusive sobre o que acham das intervenções propostas pelos especialistas, muitas vezes tidas como invasivas e violentas”.
Uma saúde mental anticapacitista não deve ser um lugar de controle, disse ele, nem mesmo um lugar de controle humanizado — que saiu de um espaço fechado e foi para um espaço aberto. Nas palavras de Alexandre, o que se busca é mais do que escuta: “As pessoas autistas e com outras deficiências devem falar sobre elas mesmas, a partir de seus saberes” [Sobre esse assunto, veja as edições 220, 232 e 239 da Radis].
O psiquiatra Manuel Desviat, que dirigiu e assessorou os processos da reforma psiquiátrica na Espanha e na América Latina e presidiu a Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, foi outra voz que pediu a desinstitucionalização real das práticas de saúde mental, incorporando o sofredor no processo de definição do atendimento. “Não é tratá-lo bem, e sim estabelecer uma clínica participativa”.
Dissidências de gênero
“Ainda não somos normais para muita gente”, desafiou o psicólogo e assistente social Marco Duarte, professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ele trouxe à discussão a dissidência de gênero diante da imposição da normalidade, na mesa que discutiu saúde mental e população LGBTQIA+. Ele identificou o retorno de um movimento de censura contra os sujeitos que se dizem diferentes e alertou para os riscos de uma “remanicomialização” por meio das comunidades terapêuticas, lembrando que o ideal de “novo normal” inclui ameaças como as tentativas de “cura gay” e de fazer crer que existe uma “ideologia de gênero”.
Para o pesquisador, o que se assiste, neste momento, é uma tentativa de reatualização das pautas que eram criticadas pelos movimentos sociais nos anos 1980, o que faz com que a luta, hoje, seja pela garantia da implementação de uma política de saúde integral da população LGBTQIA+. “Não é apenas garantia de direito; é garantia de existência”, reivindicou, afirmando que os dissidentes devem ser acolhidos em suas dissidências.
Ele propôs então um debate “pós-identitário”, que amplie as garantias de nomeação e não abram espaço para a identificação de grupos como estratégia fascista de aniquilamento: “Somos mais do que letrinhas. Temos que estar atentos para os riscos de repatologização. Nossa existência não precisa de diagnóstico”, afirmou, criticando dispositivos e protocolos ainda em uso pelos serviços de saúde que submetem ao poder médico decisões sobre a vida de pessoas transexuais. “O SUS submete à ordem médica o que o STF já legislou na esfera civil”, assinalou.
Na mesma linha de raciocínio, a psicóloga Céu Silva Cavalcanti, integrante da diretoria nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (Abrapso) e do conselho consultivo da Articulação Nacional de Psicólogues Trans (ANP Trans), afirmou que não há mais como pautar assuntos sem levar em conta as diversidades e avisou que esse é só o começo do caminho. Para isso, ela apresentou algumas “pistas éticas” que podem ajudar a estabelecer uma política mais ampla e que contemple as pautas da população LGBTQIA+.
Em primeiro lugar, Céu disse ser preciso abdicar da pretensão ao universalismo, sobre qualquer coisa de qualquer pessoa. “A patologização é a universalização dos traços menores”, avaliou, recomendando também deixar de lado o lugar de autoridade que pode surgir a partir de determinado campo disciplinar ou de um pretenso saber. “Vivências e temporalidades são diferentes”, assinalou, defendendo a autonomia das pessoas em se autodefinir.
A psicóloga também considerou que é preciso fugir de simplificações — “A gente é complicado. Ainda bem” — e, ao mesmo tempo, desinteriorizar o sofrimento. Para ela, há de se levar em conta os determinantes sociais e os contextos, de modo que os diagnósticos não se limitem às questões individuais ou intelectuais. “O sofrimento pode estar no ‘entre’”, alertou. Por outro lado, ela chamou atenção para a necessidade de “desindividualizar” os efeitos dos processos de exclusão. Um convite a complexificar os processos, indicou.
Por fim, Céu recomendou apostar na radicalização da singularidade de cada sujeito, partindo do princípio de que cada um é dono de sua história individual e que “saúde é habitar mundos possíveis”. Isso, segundo ela, quer dizer que a vida é viável em diferentes níveis, e que isso tudo é muito mais complexo do que tomar remédio ou passar por tratamento, tem a ver com outros aspectos da vida, inclusive acesso aos bens materiais, sociais e culturais. “Isso é ter potência”, assegurou. (BD e ADL)

“Ver com olhos livres”: um observatório de antidestinos
O recém-lançado Observatório de Saúde Mental, Direitos Humanos e Políticas Públicas, organizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Ensp, sob a coordenação da pesquisadora Ana Paula Guljor, registra intervenções como essas de resistência e luta emancipatória. Um dos idealizadores do observatório, Amarante contou à Radis que a intenção era não apenas preservar a memória de toda a história maléfica da psiquiatria no Brasil — o que a institucionalização gerou em termos de isolamento, segregação, silenciamento e mortalidade —, mas também registrar o lado positivo: a criação de novos serviços, de dispositivos abertos, do cuidado em liberdade, de centros de convivência e de estratégias de arte e cultura.
“Temos catalogados de seis a sete centenas de projetos culturais feitos por atores da saúde mental, sujeitos com diagnósticos psiquiátricos, usuários, pacientes, sobreviventes da psiquiatria”, calculou. Por trás de cada uma dessas experiências, estão histórias de emancipação: de uma pessoa que era definida como paciente de um hospital, passou a se reconhecer como usuário dos serviços de saúde mental, e depois começou a se apresentar como músico. “É um deslocamento de identidade muito comum, que mostra como a arte muda a relação do sujeito com ele mesmo, e o transforma em produtor de conhecimento, arte e cultura”, observou o pesquisador.
Em certa medida, a arte possibilita a essas pessoas um “antidestino”, expressão que Paulo Amarante conheceu ao pesquisar o trabalho da bailarina Daiana Ferreira, que fundou em 2012 o Ballet Manguinhos, projeto que oferece aulas de balé clássico de graça para crianças e adolescentes moradores dessa comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Daiana morreu aos 32 anos, em janeiro de 2021, de covid-19, quando o Brasil ainda patinava na vacinação contra o vírus. Ela comandou a ocupação cultural da antiga Biblioteca Parque de Manguinhos, que foi fechada pelo governo um mês antes.
“Qual seria o destino dessas crianças? Morrer jovens?”, pergunta o pesquisador. “E qual seria o destino das pessoas com sofrimento mental? Ir para o hospício, passar a vida inteira ali, mortificadas, sem identidade, sem direitos sociais”. Paulo lembra com emoção que acompanhou tantas histórias assim, de pessoas que conseguiram romper uma trajetória dada como inevitável, que ele chama de “antidestinos”.
Quando foi receber o título de cidadão ribeirãopretano, conta ele, viu na plateia a amiga Terezinha, que passou 30 anos internada no Hospital Santa Teresa, em Ribeirão Preto. Estava de tailleur vermelho, brinquinhos, uma elegante senhora aos 90 anos. “Na época em que eu a conheci ela era uma ‘louca de hospício’, porque a institucionalização a fez assim”, diz. “A luta antimanicomial mudou destinos de pessoas em cujos prontuários estava escrito: pacientes crônicos incapazes, doença degenerativa evolutiva irrecuperável, manter a medicação”. (BD)










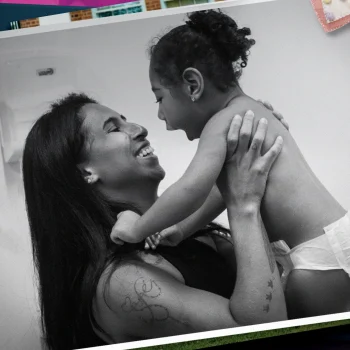

Sem comentários