A crise do abastecimento de água no crise do abastecimento de água no Sudeste do país levou o assunto às manchetes e mobilizou a sociedade, deixando à margem uma outra questão sanitária relevante — a universalização do esgotamento sanitário. Apesar de os problemas estarem intimamente ligados e repercutirem diretamente na saúde da população, pouco se tem falado em esgotamento sanitário: ao lado do conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas, é um dos elementos que compõem o saneamento básico. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que há, no mundo, 2,5 bilhões de pessoas que ainda não contam com instalações sanitárias adequadas —70% delas residindo nas áreas rurais; 1 bilhão de pessoas do planeta também não têm banheiros em suas casas, satisfazendo suas necessidades fisiológicas a céu aberto.
Relator especial da ONU para o direito humano à água segura e ao esgotamento sanitário, o engenheiro civil Léo Heller, pesquisador do Centro de Pesquisas René Rachou (Fiocruz Minas), adverte que a questão deve ser tratada sob a ótica do direito humano: “O saneamento deve espelhar o ponto de vista do usuário, não o do prestador de serviços”, disse à Radis. Para ele, medidas referentes à resolução de problemas de esgotamento sanitário e também à crise no acesso à água, por exemplo, devem combinar universalização com proteção aos grupos mais vulneráveis.
“O direito humano ao esgotamento sanitário assegura a todos, sem discriminação, soluções física e economicamente acessíveis, em todas as esferas da vida, de forma segura, higiênica, social e culturalmente aceitável, promovendo privacidade e dignidade”, afirma Léo. Segundo ele, não há como dissociar a política pública para a água da política de esgotos. “Existe uma normativa que fala que todos os direitos humanos são indissociáveis e interdependentes. Por isso esses temas devem ser tratados de forma conjunta”, ressalta. Ele informa que esse direito converge com o que está inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que em seu artigo 25 diz que “todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem estar”.
Léo também citou o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1996, que determina que todas as pessoas têm direito a um nível de vida suficiente para si e para suas famílias, o que inclui alimentação, vestuário e habitação suficientes. “A resolução da ONU que estabelece o direito à água e ao esgotamento sanitário é bem mais recente”, sinalizou o pesquisador, ao afirmar que somente em 2002 o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas emitiu um comentário específico sobre o direito à água, o de número 15. Segundo ele, em 2010 a ONU aprovou resoluções em sua Assembleia Geral e no Conselho de Direitos Humanos afirmando ser o acesso à água limpa e segura e ao esgotamento sanitário adequado um direito humano, essencial para o pleno gozo da vida e de outros direitos. “No total, 122 países aprovaram a medida, mas houve 41 abstenções, embora nenhum voto contrário. Não houve consenso. E isso é um problema, pois quando uma resolução é aprovada por consenso automaticamente transfere para os países a obrigação de respeitá-la”. Ele explica que há controvérsias em relação à posição que cada país irá adotar. “O Brasil votou a favor e isso obriga o país a respeitar esse direito”, disse.
Negligência no Brasil
Apesar de questão importante, o saneamento ainda é um problema que não recebe atenção devida, sobretudo nos países em desenvolvi- mento, alerta a geógrafa Denise Kronemberger, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ela informa que o saneamento é uma das metas previstas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), conjunto de metas definidas pela ONU desde 2000, e também está contemplado na agenda de desenvolvimento pós-2015, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que substituirão os ODM a partir de setembro. “Tais objetivos se propõem a assegurar o acesso equitativo e universal à água potável e ao esgotamento sanitário para todos até o ano de 2030”, explica.
Apesar disso, no Brasil milhões de pessoas não têm acesso a este direito fundamental, vivendo em ambientes insalubres e expostos a diversos riscos que podem comprometer a sua saúde. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada pelo IBGE em 2013, registra um discreto aumento na proporção de lares com acesso à rede coletora de esgoto (de 63,3%, em 2012, para 64,3%, em 2013, totalizando 41,9 milhões de unidades), mas atesta que 1,6 milhão de domicílios brasileiros (2,4% do total) não possuem qualquer tipo de esgotamento sanitário, sendo 1,1 milhão na região Nordeste. Entre os moradores que não têm acesso à rede de esgoto, 12,7% usam fossa séptica regular (sem ligação à rede), 18,6% têm fossa rudimentar, e outros 2,8% usam outro tipo artesanal de esgotamento, indica a pesquisa. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis) indicam que apenas 39% do esgoto é tratado.
No país, desde 2007 vigora a Lei no 11.445 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. A lei instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), eixo central da política federal para o setor, promovendo a articulação entre estados e municípios, sob a coordenação do Ministério das Cidades. O plano estima investimentos de R$ 508 bilhões, entre 2013 e 2033, prevê metas nacionais e regionalizadas de curto, médio e longo prazos, e também trata das ações da União relativas ao saneamento nas áreas indígenas, reservas extrativistas e comunidades quilombolas. De acordo com o Conselho Nacional de Cidades — estrutura do Ministério das Cidades que é responsável pelo acompanhamento do Plansab — os municípios devem concluir seus planos de saneamento até o fim de 2015, condição para que as cidades tenham acesso aos recursos da União. (veja matéria na página 24)
Desigualdades no acesso
A sanitarista Uende Aparecida Figueiredo Gomes, professora da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), aponta que, além de o déficit no acesso ao saneamento ser elevado, este é maior entre as populações mais pobres no país. Ela cita estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 2007, que demonstra que os 20% mais ricos da população do país têm acesso a 90% de cobertura de acesso à coleta, quase uma universalização, enquanto entre os 20% mais pobres essa percentagem cai para algo em torno de 60%. Uende salienta que o acesso adequado não é somente acesso à rede ou ao sistema individual, mas também envolve a coleta e o afastamento [por meio de fossa ou sistemas de redes coletoras]. “É de fundamental importância ampliarmos o tratamento dos esgotos antes da disposição final”, explica a professora.
Em relação às estimativas de acesso, Uende detecta que há uma valorização dos dados quantitativos em detrimento daqueles que tratam da qualidade dos serviços ofertados. Ela aponta que os indicadores que avaliam o acesso ao serviço — seja de esgoto, água, drenagem ou coleta de resíduos sólidos — nem sempre são suficientes. “Esse tipo de informação, quando utilizado de forma pontual, pode apresentar distorções”, adverte. A professora afirma que há pouca in- formação sobre a qualidade do serviço, como se dá o acesso e como está a democratização deste direito no país. “A área de saneamento reafirma a desigualdade do Brasil. Em todos os sentidos, são os mais pobres os mais prejudicados. Precisamos avançar para verificar como está a distribuição heterogênea do déficit, concentrado nas camadas de menor poder aquisitivo”, diz.
Léo Heller também confirma que as estatísticas não retratam quantidade, qualidade e continuidade dos serviços, acessibilidade, riscos à saúde e impactos sobre escolas e serviços de saúde. “O acesso é tratado a partir das médias nacionais e há um precário monitoramento em relação às desigualdades”, explica. Ele informa que o atual programa de monitoramento da ONU trabalha com a noção de “acesso melhorado”, que pode incluir situações de acesso precárias, não adequadas, como fossas rudimentares, em zonas urbanas densamente povoadas. “Não se fala nada para onde vão os esgotos”, diz, lembrando que o tema ambiental é relativamente negligenciado.
Políticas conjuntas
Água e esgoto devem ser tratados como políticas conjuntas. A ausência de um ou de outro elemento traz impactos negativos para a saúde humana e reforça o ciclo de pobreza, advertem especialistas. O engenheiro de Saúde Pública André Monteiro, pesquisador do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Fiocruz Pernambuco), observa que o esgoto sem destinação adequada contamina os espaços de circulação coletiva, favorecendo a transmissão de várias doenças. Nas favelas, exemplifica, a falta de acesso regular à água e a precariedade do esgoto produzem condições sanitárias inadequadas, permitindo que crianças se contaminem no entorno de suas casas, num ciclo que ele definiu como “feco-oral”. Uende concorda. Para ela, as condições de vida de uma pessoa que tem esgoto na frente do seu domicílio ou no peridomicílio são piores. “Isso fortalece e reforça o ciclo de pobreza”.
O geógrafo Christovam Barcellos, chefe do Laboratório de Informações em Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), alerta que não basta tratar e distribuir água com qualidade para garantir a saúde da população. “As pessoas se expõem às doenças não só bebendo água, mas consumindo alimentos, aproveitando momentos de lazer, tomando banho em rios e praias e, em áreas rurais, lavando roupas e louças nos cursos d ́água”, afirma. Ele explica que desde o século 19 há comprovação de que o esgoto é um com- ponente básico do funcionamento das cidades, e observa que houve evolução no interior dos domicílios. “95% da população urbana têm acesso à rede geral de água e 65% têm suas casas ligadas à rede de esgoto”, diz o pesquisador, citando in- formações do Censo 2010, do IBGE. Para ele, no entanto, o mesmo não se pode dizer quando se observa o que acontece do lado de fora das casas. “Não tenho a menor dúvida que o investimento foi muito mais individual do que resultado de uma política pública”, diz ele, alertando que as pessoas pensam mais em conforto do que em saúde. “Para o indivíduo, o que importa é levar o esgoto para longe da comunidade ou de sua casa”, observa, lembrando que hoje, por conta da precariedade na distribuição de água e do esgoto a céu aberto, a rua é um grande fator de risco para as chamadas de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI).
Pesquisadora do Instituto Brasildeiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Denise Kronemberger orienta que bons serviços de saneamento (coleta e tratamento) contribuem para melhorar a qualidade de vida da população — já que reduzem a mortalidade infantil, diminuem as faltas no trabalho, favorecem a moradia saudável e o turismo — e significam menores custos para a saúde pública, já que a redução do número de casos implica em menos internações hospitalares e melhor aplicação de recursos. A redução nos custos com internações permitiria ampliação de leitos hospitalares ou a compra de equipamentos, exemplifica.
Disparidades na periferia
Denise orienta que investimentos em saneamento devem priorizar áreas mais carentes, no intuito de reduzir disparidades. “É uma questão de planejamento e de disponibilizar recursos financeiros para a implantação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de coleta e disposição final do lixo para alcançar a universalização”, comenta.
Os índices de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário apontam uma demanda não atendida, principalmente nas comunidades de baixa renda das cidades, nas periferias e também nas áreas rurais, afirma a geógrafa Ana Lúcia Britto, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Os dados também mostram que são os mais pobres que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto”, assegura. Ela cita como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, onde os índices de tratamento de esgoto pioram à medida que se desloca da capital para a periferia. “Em municípios como Japeri e Queimados (situados na zona da Baixada Fluminense, no estado do Rio) há praticamente zero de coleta e tratamento”, diz a pesquisadora.
Em relação aos domicílios localizados em áreas rurais, o quadro também é ruim, registra a Pnad, em 2012. Segundo a pesquisa, somente 5,2% dos domicílios rurais possuem coleta de esgoto ligada à rede geral e 28,3% possuem fossa séptica (ligada ou não à rede coletora). Fossas rudimentares e outras soluções são adotadas por 45,3% e 7,7% dos domicílios rurais, respectivamente. De acordo com a pesquisa, em sua maioria as soluções adotadas são inadequadas para o destino dos dejetos: há fossas rudimentares, valas e o despejo do esgoto in natura diretamente nos cursos d’água. Além disso, 13,6% das residências não dispõem de nenhuma solução para o esgoto doméstico.
Impactos na saúde
Diarreias, leptospirose, hepatite A e cólera são as principais doenças decorrentes da falta de esgotamento sanitário, informa a Organização Mundial da Saúde (OMS). Juntas, elas são responsáveis, a cada ano, pela morte de 1,5 milhões de crianças menores de 5 anos de idade, sobretudo em países em desenvolvimento. Falando somente em diarreia, 88% dos casos fatais são decorrentes de saneamento inadequado — destes, 84% atingem crianças, informa a OMS. Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) indica as diarreias como segunda maior causa de mortes em crianças menores de 5 anos de idade, enquanto o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) contabiliza que 94% dos casos de diarreia no mundo são devidos à falta de acesso à água de qualidade e ao saneamento precário.
No Brasil, os números também preocupam. O IBGE calcula que as doenças de transmissão feco-oral, especialmente diarreias, representam mais de 80% daquelas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Dados do Datasus de 2011 registram 396 mil internações por diarreia; destas, 138 mil foram crianças menores de 5 anos (35% do total). “Quanto mais proximidade existe entre o ser humano e os esgotos coletados e não tratados, maior é a chance de incidência de doenças por conta da água poluída”, diz Édson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil. Ele afirma que os municípios que não investiram em água tratada, coleta e tratamento de esgoto, normalmente têm indicadores muito piores de internações e de custos no sistema de saúde por conta de doenças transmitidas por água poluída. “É uma relação direta. Os números são assustadores”, assegura.
Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da População, lançada em 2013, é uma das pesquisas do instituto que mostra a associação entre saneamento básico precário, pobreza e índices de internação por diarreia. O estudo concluiu que “ter ou não acesso a uma água de qualidade e um bom sistema de coleta e tratamento de esgotos faz toda a diferença para afastar estas doenças que sobrecarregam o sistema de saúde, ocupam milhares de leitos hospitalares, afetam as crianças e as cidades como um todo”. Ao comparar os 100 maiores municípios brasileiros em população, no período entre 2008 e 2011, a pesquisa diagnosticou uma forte relação entre o porte do município e a ocorrência de diarreias e relacionou gastos hospitalares com internações decorrentes da doença. Apenas nesses municípios são despejados diariamente 8,6 bilhões de litros de esgoto na natureza. “No Brasil é como se cinco mil piscinas olímpicas de esgotos fossem despejadas na natureza diariamente”, informa o Trata Brasil.
Segundo essa pesquisa, das 396 mil pessoas internadas por diarreias no Brasil, 54 mil (14%) es- tavam nas 100 maiores cidades. Aproximadamente 20 mil internações (35% da amostra analisada e 5% do total de internações por diarreia do país) ocorreram nos 10 maiores municípios. O estudo revela que 53% das internações por diarreia foram de crianças, mais vulneráveis à falta de saneamento.
As regiões Norte, Nordeste e as periferias das grandes cidades foram as áreas com as maiores taxas de internação por diarreias entre 2003 e 2008 — sete das 10 cidades com pior desempenho eram dessas regiões. Algumas cidades estiveram entre as 10 piores em todos os anos da série histórica: Ananindeua e Belém (PA), Belford Roxo (RJ), Campina Grande (PB), Maceió (AL), Teresina (PI) e Vitória da Conquista (BA).
Custos para o SUS
No que diz respeito aos custos do SUS com internações por diarreia, foram gastos R$ 140 milhões em 2011. Nas 100 maiores cidades, esse gasto foi de R$ 23 milhões, ou seja, 16,4% do to- tal. Colocando uma lupa nos números, a pesquisa revela que em Ananindeua, no Pará, o gasto total foi de R$ 314.459 por 100 mil habitantes, enquanto que em Taubaté, em São Paulo, foi de R$ 721. Ao cruzar os índices de atendimento de coleta de esgoto em 2010, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis), o estudo apontou que em 60 das 100 cidades os baixos índices de coleta de esgoto resultaram em altas taxas de internação por diarreias. O dado mais preocupante, porém, diz respeito à participação das crianças menores de 5 anos nesse quadro de internações — 53% do número total, nas cidades avaliadas. Ainda, a taxa média de internação por diarreias nas 20 melhores cidades foi de 14,6 casos contra 363 casos nas 10 piores cidades. Ou seja, segundo o estudo, a média de internações nas piores cidades foi 25 vezes maior que nas melhores cidades.
Outra pesquisa do Instituto Trata Brasil, realizada em parceria com o Centro Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CBDS), registrou que o investimento em saneamento básico não somente evita doenças e outros problemas, como implica na maior produtividade e riqueza para o país. De acordo com o relatório Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro, lançado em 2014, a deficiência de infraestrutura influencia a posição do país nos principais índices de desenvolvimento, como o de mortalidade infantil e longevidade da população. O estudo concluiu que a probabilidade de uma pessoa com acesso à rede de esgoto se afastar das atividades laborais por qualquer motivo é 6,5% menor que a de uma pessoa que não tem acesso à rede. Segundo o levantamento, o acesso universal teria um im- pacto de redução de gastos de R$ 309 milhões nos afastamentos de trabalhadores. Além disso, o estudo revela que o acesso à coleta de esgoto proporciona ao trabalhador melhora geral de sua qualidade de vida e um aumento em 13,3% em sua produtividade, possibilitando o crescimento de sua renda em igual proporção.
Investimento e planejamento em Uberlândia
Há cinco anos, o agricultor Antonio Elzo da Silva convivia com uma fossa negra instalada perto de sua horta. Morador do assentamento Fazenda Tangará, em Uberlândia — a maior cidade da região chamada Triângulo Mineiro —, sua vida ganhou outra perspectiva com a instalação de uma fossa séptica sustentável na casa onde vive com a mulher Geralda e o filho Antonio. “Vai ser muito bom. Ela elimina o resíduo de fezes e não vamos mais contaminar o meio ambiente”, disse à Radis. Mau cheiro e insetos também faziam parte da vida da família do produtor Rui dos Santos, presidente da Associação de Moradores da Fazenda Tangará, que durante anos também teve que usar uma fossa negra, feita com um buraco no solo para jogar o esgoto. “Eu via que contaminava a criação. Dava para perceber que a mortalidade das aves era maior”, diz ele, que vive no lote de 13,6 hectares com a mulher Maria Cirleide, o filho Ruimar e Bianca, a neta de 16 meses. “Ela vai crescer em um ambiente diferente. Vivemos primeiro em um acampamento, que tinha fossa rasa. Depois passamos para o lote, com cisterna situada perto da fossa. Agora, tenho água encanada, cisterna e uma fossa séptica”, comemora.
Feita com pneus recicláveis, tubos e conexões, a fossa sustentável, desenvolvida por técnicos do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae), é apresentada como solução para diminuir o déficit do saneamento nas cidades, especialmente em áreas sem rede de esgotamento sanitário. A casa de Rui foi a primeira beneficiada, de um total de 360 domicílios de dois assentamentos, que terão fossas instaladas até o final de 2016, informa o engenheiro agrônomo Geraldo Silvio de Oliveira. O procedimento é simples: o Dmae entra com o material e a mão de obra técnica e o produtor dá a contrapartida, co- locando a mão na massa e ajudando na instalação. O líquido restante de todo o processo é utilizado para irrigar plantas perenes. No caso de Rui, irriga uma bananeira. “Não há risco de contaminação”, garante Geraldo, destacando que a preocupação com a sustentabilidade está presente em todo o processo: os pneus utilizados são retirados de um ecoponto e o lodo que resta do processo pode ser aplicado em uma compostagem, que depois pode ser usada como adubo em plantações.
Em 2014, foram destinados R$ 300 mil para o projeto das fossas em Uberlândia, de acordo com Geraldo. Para o engenheiro eletricista Leocádio Alves Pereira, diretor técnico do órgão, o sistema representa uma economia para a cidade. Segundo ele, cada uma das fossas custa entre R$ 400 a R$ 500, valor inferior às tradicionais, disponíveis no mercado, que custam em torno de R$ 2 mil depois de instaladas. Ele conta que as fossas foram instaladas inclusive em duas Unidades Básicas de Saúde, onde coletam os dejetos oriundos dos sanitários. “Procuramos alternativas para atender a população com um custo baixo. Resolvemos três problemas ao mesmo tempo: atendemos o saneamento rural, evitamos a contaminação dos recursos hídricos e damos uma destinação mais ecológica aos pneus, o que também contribuiu para diminuir a proliferação de mosquitos, como o da dengue”, diz. O projeto foi apresentado ao Ministério das Cidades e tem atraído a atenção de municípios e estados de todo o Brasil. De acordo com Leocádio, nesse tipo de fossa, os pneus são empilhados, ganham um tampão no fundo e são presos com parafusos, que dão sustentação à montagem. Depois, são vedados com manta asfáltica. Para a filtragem do esgoto, são utilizados materiais como areia e brita.
Tarifa barata
A inovação vem no rastro de um bem- -sucedido trabalho na área de saneamento feito em Uberlândia: segundo informações do Dmae, há 100% de abastecimento de água, 98,4% de coleta de esgoto e todo ele é tratado. A cidade que, em 2014, tinha 654 mil habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi a primeira a concluir o Plano Municipal de Saneamento, em 2012, e tem a tarifa de água mais barata de todo o Brasil (média de R$ 1,26 mensais). Em junho, houve reajuste de 9,95% no valor da conta de água. “Com isso, cerca de 15% da arrecadação do departamento será destinada para o pagamento da energia elétrica. Outras companhias de saneamento gastam de 30% a 35% com energia. Esse ainda é um dos nossos diferenciais”, afirma o engenheiro civil Alexandre Silva, diretor geral adjunto do Dmae. “É uma tarifa que permite que o departamento tenha autonomia financeira”, salienta. Alexandre ressalta que a folha de paga- mento consome apenas 22% da arrecadação do órgão. “As companhias estaduais gastam mais de 50% com a folha e isso diminui a capacidade de investimento”, diz.
Outra característica positiva de Uberlândia é contar com fábrica própria de tubos de aço, aponta Alexandre. Ele explicou à Radis que todas as adutoras [estrutura que faz parte da rede de abastecimento de água] em aço foram construídas pela fábrica, o que diminuiu o custo de implantação das tubulações, que são significativos. Há 32 anos no departamento, o engenheiro lembra que, no início, o foco eram as obras de abastecimento de água. “De 1983 até 1986 houve grande concentração de recursos para água. É lógico: enquanto não se resolve a questão da água, não há investimento em esgoto”, explicou. A partir de 1988, a cidade investiu na construção de interceptores, para evitar o lançamento de esgoto nos córregos ou galerias. “Para cada fundo de vale [ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as águas das
chuvas] fizemos um interceptor de cada lado”, revelou. Segundo o diretor, desde 1986 foram construí- dos 130 quilômetros de interceptores e emissários de esgotos. Depois, foi concluída a malha de coleta de redes. “Foram praticamente 18 anos investindo pesado em esgoto, interceptores, elevatórias e na Estação de Tratamento de Esgoto Uberabinha (ETE), inaugurada em 2003 e que recebe 95% do esgoto da área urbana”, contabiliza. No site do Dmae, divulga-se que, entre 2005 e 2012, foram investidos cerca de R$ 200 milhões no sistema de captação e tratamento de água e de esgoto de Uberlândia, sendo R$ 155 milhões recursos provenientes dos cofres municipais. Ainda de acordo com o Dmae, o aterro sanitário tem 20 anos e os gases gerados pelos resíduos ali depositados são reaproveitados como biogás, com capacidade para abastecer com energia o correspondente a uma cidade com 20 mil habitantes.
Gestão Municipal
Criado em 1967, o Dmae concluiu sua primeira obra há 41 anos. A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Sucupira garantiu fornecimento de água potável aos moradores de Uberlândia. Segundo in- formações divulgadas pelo departamento, Sucupira no país foi a primeira estação a contar com bombas movidas a turbinas hidráulicas, um sistema integra- do com motores elétricos e a diesel. “Felizmente todos os administradores sempre valorizaram o Dmae”, atesta o engenheiro civil Orlando Rezende, diretor da autarquia, destacando que a gestão continuada garantiu o sucesso do trabalho realizado. No cargo desde 2013, ele disse respeitar o “passado de zelo” e apontou como referências os programas de Monitoramento de Efluentes (Premend), o Buriti e o Escola Cidadã (Peac).
O Premend recebe e monitora o esgoto da indústria e do comércio. Criado em 2007, o pro- grama conseguiu reduzir em mais de 50% a carga poluidora recebida na ETE Uberabinha, construída para tratar o esgoto doméstico. “A estação de tratamento poderia ter muito estrago sem essa norma”, diz Alexandre, explicando que exige-se um tratamento prévio dos efluentes destes setores produtivos, para que fiquem compatíveis com as características de um esgoto doméstico, antes de serem lançados na rede de coleta e tratamento do Dmae. Segundo ele, o programa se estrutura a partir do conceito de poluidor-pagador: quanto mais você polui, mais você paga. “É aquela história: se não pesar no bolso, ninguém faz nada”, comenta.
O Programa Buriti, também de 2007, visa à proteção de recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) em torno dos cursos d ́água que abastecem a cidade. Foi transformado em lei no ano seguinte. “Naquela época, ainda não se tinha a visão de que a matéria-prima deveria ser cuidada. Começamos a proteger nosso recurso”, lembra Geraldo. “As áreas estavam degradadas. Cercamos, reflorestamos e investimos na educação ambiental com os produtores, mostrando a importância de proteger as nascentes”, conta. O programa possibilitou a plantação de cerca de 175 mil mudas e cadastrou 126 propriedades no município, e outras seis, na vizinha Uberaba. Segundo Geraldo, a área recuperada até agora é de aproximadamente 6 mil hectares, correspondendo a 42% da meta de proteção (de 14 mil hectares de área, a ser atingida em 15 anos). “É um ganho geral”, diz, comemorando os resultados do projeto realizado com inúmeros parceiros. Em 2015, o investimento será de R$ 2,5 milhões, informa. “O produtor viu que o nosso departamento é um parceiro e não um fiscalizador. Essa foi a grande jogada”, garante.
Ação pioneira em educação ambiental no município, o Programa Escola Cidadã (Peac) foi criado e transformado em lei em 2003. Com uma equipe de 16 pessoas, ele orienta alunos do município em todos os níveis de escolaridade, por meio de visitas às estações de tratamento de água e esgoto e palestras de conscientização realizadas nas escolas. “Todos acham que há um efeito mágico da água e do esgoto: ela chega e some. Nossa função é mostrar qual o custo dessa água para chegar até eles e no que ela se transforma após o uso”, diz Geraldo. Ele informa que em 2014 cerca de 30 mil pessoas foram atendidas pelo Peac, que dispõe de cartilha, CD com músicas e histórias em quadrinhos como elementos educativos.
O Dmae também conta com um projeto de descarte de óleo de cozinha, e apoia a coleta se- letiva. “A questão do lixo tem a ver com o Dmae, porque os detritos vão para as ruas, para o rio”, diz Orlando. Segundo o engenheiro químico Marcelo Costa de Araújo, gerente de tratamento de esgoto, diariamente, o departamento retira de todo o seu sistema de tratamento cerca de 155 toneladas de lixo e areia. Em 2014, o gasto médio para realizar o tratamento de esgoto foi de R$ 850 mil por mês. “Só para a retirada de resíduos são destinados R$ 75 mil. Ao reduzir os resíduos jogados de forma incorreta na rede de esgoto, é possível diminuir os custos”, calcula.
Planejamento é saúde
A preocupação com o saneamento repercute nos índices de saúde na cidade. Rosana Gervásio, coordenadora de Vigilância Epidemiológica, informa que Uberlândia não tem grande quantidade de casos graves de diarreia. “Temos casos isolados de surtos vinculados à contaminação por alimentos. Quando acontece, aproveitamos para coletar água e não conseguimos identificar nenhum problema”. Rosana acredita que Uberlândia é uma cidade privilegiada: “Saneamento é consequência do desenvolvimento. Se quisermos uma cidade para o futuro, não adianta pensar num crescimento desenfreado sem estrutura básica. Tem que ter um planejamento elaborado”, afirma.
José Veridiano, presidente do Conselho Municipal de Saúde, considera que tratar saneamento como política de estado, e não de governo, deveria também ser regra em outras áreas públicas. “Se Uberlândia tivesse o mesmo cuidado com saúde, desenvolvimento e meio ambiente, o município seria modelo para todo o país”, comenta. Ele identifica que ainda há problemas relacionados à migração irregular, que dificultam a universalização da coleta — como na região de Morada Nova, que era situada na área rural. Os moradores esperaram por obras de esgotamento sanitário durante 33 anos. Para resolver o problema, a área foi anexada ao perímetro urbano. Em maio, prefeitura e Dmae assinaram um contrato no valor de R$ 24,6 milhões, que preveem obras sanitárias em um período de 12 meses e beneficiarão 7 mil pessoas, residentes em oito loteamentos da região. Pensando no futuro, e de olho na futura expansão da área, a infraestrutura a ser implantada terá capacidade para atender a uma população aproximada de 62 mil pessoas.
Legislação é um marco
A Lei 11.445/2007, que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico, orienta a ação do governo federal por meio da definição de diretrizes e objetivos. Ela tem como eixo central o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) — instituído pelo Decreto 8.141, de 2013 — que prevê a atuação do setor em 20 anos, compreendendo o período 2013 a 2033. Para alcançar as metas propostas, estimou-se um investimento da ordem de R$ 508,4 bilhões em 20 anos. Os recursos, segundo previsão do Plano, serão oriundos de agentes federais (59%) e da participação de demais agentes, como as receitas tarifárias, os governos estaduais e municipais, os prestadores de serviços públicos e privados e os organismos internacionais (41%). O Plano será avaliado anualmente e revisado a cada quatro anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos Planos Plurianuais (PPA) do governo federal.
Segundo a Lei, caberá à União coordenar a atuação dos diversos agentes envolvidos no planeja- mento e execução da política de saneamento básico no País. “Podemos considerar essa lei um marco, pois é a primeira que regula o setor. Antes existiam apenas normativas, da década de 1990 ”, considera Léo Heller, relator da ONU, argumentando que ela estabelece uma política pública avançada. “Mas é preciso olhar as distâncias entre lei e a realidade, quais são os seus descompassos”, adverte. Para ele,
a intervenção nem sempre se estrutura para enfrentar desigualdades. “Observamos que a lei idealiza uma política com elementos bastante avançados, mas hoje o que define prioridades de intervenção no saneamento básico é principalmente o PAC. O programa não olha para a lei, ou para o Plansab. Ele tem outro mecanismo de tomada de decisão sobre como e onde investir”, observa.
O engenheiro civil Paulo Ferreira, secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, discorda, lembrando que um dos critérios de seleção dos investimentos no PAC é o Índice de Desenvolvimento Humano. “A crítica não procede. É claro que o Ministério das Cidades privilegia os municípios mais pobres com investimento e assistência técnica”, assegura. Em entrevista à Radis, Paulo afirmou que, entre 2007 e 2014, o governo federal investiu R$ 86 bilhões na rede de coleta, em elevatórias, nas estações de tratamento e na disposição final do esgoto. “Normalmente os municípios mais pobres são mais frágeis do ponto de vista técnico e necessitam de investimentos em menor volume. Dentro da prioridade do esgota- mento sanitário, os municípios mais carentes são os mais aquinhoados com investimentos”, garantiu.
Para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), foram dirigidos ainda investimentos de cerca de R$ 8 bilhões, recursos que, segundo o engenheiro civil Ricardo Frederico Antunes, coordenador geral de Engenharia e Arquitetura do órgão, foram destina- dos à distribuição de água e esgotamento sanitário de áreas urbanas de municípios com população até 50 mil habitantes e municípios situados em áreas rurais. “A Lei 11.445, de 2007, impulsiona o investimento e a sociedade tem se preocupado com este assunto. Mas o maior desafio é a perenização do recurso para o setor. Isso é algo essencial”, diz Ricardo, destacando a importância da educação ambiental: “Não adianta apenas investir sem re- passar à população a forma como o sistema deve ser utilizado. Isso evita que na operacionalização sejam detectados problemas como o lançamento de diversos materiais e o entupimento da rede levando a sua obstrução”.
Regulação incipiente
Léo avalia que “o governo federal precisa aumentar muito o seu nível de organização para transformar o Plansab na diretriz que vai nortear a mudança no saneamento no país”. Ao mesmo tempo, ele ressalta que, se em alguns estados e municípios há regulação, ela ainda é incipiente. Ele alerta que o modelo de saneamento no Brasil é muito vertical, tecnicista, pouco permeável à participação social nas tomadas de decisão, e não teve a mesma trajetória que a Saúde.
De acordo determinação do Conselho Nacional das Cidades, que monitora o Plansab, até o final de 2015 os municípios devem concluir os seus planos municipais de saneamento. O prazo inicial era 2010, depois estendido para o final de 2014, e novamente adiado. “Isso será condição para o acesso a recursos orçamentários da União na área. Os planos devem conter diagnóstico, objetivos, metas, programas, projetos e ações, para contingência e emergência, mecanismos de avaliação, bem como a participação social em todas as fases”, diz Alexandre Pessoa, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Ele observa que diversos planos apresenta- dos possuem qualidade questionável, não atendem os componentes mínimos do saneamento básico e não permitem a devida participação social. “Nesse momento, os critérios de aceitação desses planos deverão evitar distorções geradas por municípios que não priorizam o saneamento como política pública”, avalia. “O que sabemos é que os planos estão sendo feitos por obrigação”, afirma Uende. “No momento da elaboração não há compromisso com a qualidade do produto. O interesse é pela presença física do plano, que se torna incapaz de orientar a política pública a médio e longo prazo. Muitas vezes o gestor quer cumprir uma exigência legal. Por isso, não tenho esperança nenhuma em relação a esses planos”, diz.
Responsabilidades
Segundo informações da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), o repasse de recursos para iniciativas de saneamento são estabelecidos pela esfera federal. Cabe ao Ministério da Cidades, por meio da SNSA, atender os segmentos de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e manejo de resíduos sólidos urbanos, em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas, regiões Integradas de desenvolvimento ou participantes de consórcios públicos afins. Para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, e com uma entidade pública concessionária do serviço de esgotamento sanitário, além de toda a área rural, o atendimento é realizado pelo Ministério da Saúde, por meio da Funasa.
“Há uma competência compartilhada e deve prevalecer a lógica de subsidiariedade. Se um município não conseguir resolver o problema, o ente superior a ele deve apoiá-lo”, diz Ana Lúcia Britto. Ela explica que, nos casos dos sistemas de água e esgoto que atendem um só município, a responsabilidade é municipal. Já no caso de regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos, Ana assegura que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, desde 2013 a responsabilidade é compartilhada por meio de uma autarquia intermunicipal. “Nesse caso, não há mais autonomia do município e todas as decisões devem ser compartilhadas”, assegura.
A SNSA informou que o Governo Federal promove programas de investimentos, disponibilizando os recursos para que governos estaduais e municipais, além de prestadores de serviços de saneamento, executem as obras necessárias. Nesse contexto, o papel do Ministério das Cidades é o de formular e implementar políticas públicas e programas federais de melhoria do saneamento, com apoio financeiro às iniciativas locais, quando possível, ficando a execução a cargo dos estados e municípios.
Riscos da privatização
A Constituição Federal determina que o titular do serviço local é o município que, de várias maneiras, presta serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário à população: há prestação de serviço direta, via departamentos municipais, concessões plenas, concessões par- ciais, parcerias público-privada, locação de ativos, contratos de gestão, entre outros.
Uende alerta para os riscos de privatização do setor. Ela lembra que, em alguns casos, os serviços são prestados por companhias estaduais de saneamento, que estão sendo “cobiçadas” pela iniciativa privada. Ela não considera que a privatização do sistema de água e esgoto seja caminho para a universalização. “Na visão das empresas privadas, e de algumas concessionárias de água e esgoto, a mercantilização já vem incorporada em suas práticas institucionais. O interesse de algumas empresas pelo serviço se dá por uma questão de viabilidade econômica”, diz, ao comentar a transformação de um bem público em produto. Para ela, essa transferência de lucros pode afetar os investimentos na melhoria do sistema e no atendimento aos serviços de água e esgoto à população. “O recurso que é arrecadado pela prestação de serviços vai para fora do setor, quando poderia ser reinvestido, por exemplo, para garantir a segurança hídrica ou uma coleta mais efetiva de esgoto”, afirma.
Negócio vantajoso
O sociólogo e coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, Édison Aparecido dos Santos, cita o caso da Sabesp, de São Paulo, empresa pública com capital aberto na Bolsa de Valores. Responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 364 municípios do Estado de São Paulo, a Sabesp é considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida — são 28,2 milhões de pessoas abastecidas com água e 22,1 milhões de pessoas com coleta de esgoto. Segundo Édison, o histórico de transferência de dividendos aponta para onde caminha a companhia: “Em plena crise hídrica, a Sabesp pagou 25% de lucro para seus acionistas. Esse dinheiro deveria ter sido usado para a superação da crise. Ou, pelo menos, o governo do estado deveria ter devolvido a sua parcela para a companhia para que ela reinvestisse no setor”. Para ele, esta posição mostra a “falta de comprometimento com a causa pública”. Em 2013, o total de dividendos distribuídos pela Sabesp chegou ao patamar de R$ 534,2 milhões; dois anos antes o valor chegou a R$ 1,233 bilhão, com transferência de 43,9%.
Outro aspecto levantado por Édison diz respeito à rentabilidade do negócio. “Não há madre Teresa de Calcutá no setor privado”, afirma. Ele diz que a Sabesp tem privilegiado a gestão privada dos serviços e que 72% de sua receita vem da região metropolitana, onde estão localizados apenas 39 municípios. “Isso mostra que ninguém vai querer fazer obra onde não há dinheiro”, reforça. Por isso, ele acredita que a universalização do saneamento será dada com o fortalecimento das empresas públicas e do Estado. “A Embasa, na Bahia, deu saltos fenomenais sem ter que fazer PPP [parceria público-privada] ou concessão. Eu acho que esse é o melhor exemplo de uma empresa pública que dá certo. Se o negócio é vantajoso para o setor privado, por que não seria para o setor público?”, comenta. No cenário internacional, ele cita a experiência de Paris, que remunicipalizou o serviço, teve a possibilidade de reduzir as tarifas e ampliar os investimentos no setor. “Há um simbolismo muito grande, pois foi em Paris que se instalaram as grandes multinacionais do saneamento. Aqui no Brasil, o setor privado aparece como muito eficiente, mas há várias reclamações. Um medidor de eficiência é a perda de água. Manaus, que tem serviço privado, é uma das capitais que mais perde água”, comenta.
Ricardo, da Funasa, chama atenção para a in- visibilidade das ações voltadas para o saneamento, avaliando que sempre predominou no país a visão de que “saneamento é obra enterrada”. Mesmo assim, ele considera que houve mudanças: a população está preocupada com o assunto, há mais investimento e aumentou a cobertura dos meios de comunicação para os benefícios que o sanea- mento traz para a sociedade. “Isso é um ganho e o processo é irreversível. Não vejo como é possível dar um passo para trás. Vejo perspectiva”, aponta.
Em maio, a Fiocruz e o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha assinaram contrato de um projeto de cooperação internacional com o objetivo de produzir relatórios temáticos sobre o direito humano à água segura e ao esgotamento sanitário. Os relatórios serão destinados ao Conselho de Direitos Humanos e à Assembleia Geral das Nações Unidas. A pesquisa será coordenada por Léo Heller, relator especial da ONU para o direito humano à água segura e ao esgotamento sanitário.




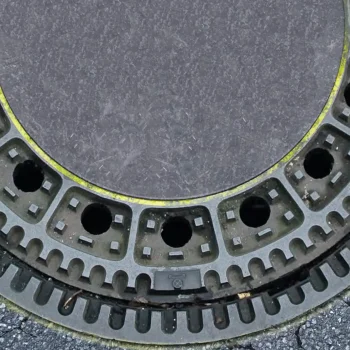
Sem comentários