De 4 a 8 de agosto de 2025, o Rio de Janeiro se tornou a capital latino-americana da saúde coletiva. Nesse período, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) sediou o 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva e recebeu mais de dois mil congressistas no campus Maracanã. Sob o mote “Por democracia, direitos sociais e saúde: retomando o caminho da determinação social e da soberania dos povos”, o evento político-acadêmico marcou os 40 anos da Associação Latino-Americana de Medicina Social (Alames) e promoveu debates urgentes para os países da região.
Organizado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), representante da Alames no Brasil, o congresso reafirmou o papel histórico da associação: se na sua fundação, em 1984, a prioridade era fortalecer as democracias recém-saídas de ditaduras na América Latina, hoje a preocupação da Alames e da saúde coletiva recai sobre novas formas de autoritarismo e ameaças de perdas de direitos conquistados.
Carlos Fidelis, presidente do Cebes, destacou à Radis a relevância do encontro no contexto atual e defendeu um novo pacto social: “Vivemos em um mundo sem garantia de previdência social e assistência médica para todas as pessoas. Queremos discutir um modelo econômico centrado no bem-estar, que seja intergeracional e garanta o presente e o futuro, com responsabilidade ambiental e justiça social”, afirmou.

Para o médico e sanitarista Jairnilson Paim, professor emérito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Alames ainda tem como uma de suas missões a defesa da democracia — agora contra formas mais sutis de subversão. “Hoje, a ameaça não vem apenas de forças militares, mas de dentro das próprias estruturas democráticas”, alertou à Radis. Democratizar a saúde vai além do acesso universal, de acordo com ele: “É difundir uma consciência sanitária crítica, que reconheça a determinação social e ambiental dos problemas de saúde”.
Radis esteve no 18º Congresso da Alames e traz algumas discussões que estiveram em pauta no encontro e que impactam o futuro da saúde coletiva na América Latina.
Direito à saúde requer desprivatização
Como garantir saúde à população se cada vez mais ela é encarada como um negócio lucrativo por grupos empresariais que abocanham os recursos que seriam destinados ao SUS? Esse é um desafio comum aos países da América Latina, que vivenciam a expansão do setor privado na saúde, inclusive dentro dos próprios sistemas públicos.
A privatização da saúde ocorre por meio da crescente participação e influência do setor privado em atividades e instituições dos sistemas de saúde, apontou Lígia Bahia, médica sanitarista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na mesa “Tensões e riscos ao direito universal à saúde: privatização e financeirização” (6/8). A presença do setor privado vai desde a obtenção de financiamento até a provisão de serviços, incluindo atuação na gestão, organização e contratação da força de trabalho.
“Só é possível ter um sistema universal de saúde se houver um processo de desprivatização”, afirmou Lígia. Segundo a pesquisadora, a chamada financeirização da saúde é parte do capitalismo atual e penetra todos os âmbitos da vida. Ela explica que a privatização não ocorre apenas de modo explícito, com a expansão do setor privado, mas por diversos mecanismos que envolvem renúncia fiscal, contratação, compras e acordos que extraem recursos que deveriam ser destinados ao sistema público.
O chamado empresariamento da saúde é um fenômeno crescente observado não apenas no Brasil, mas no conjunto dos países da América Latina, como parte da fase atual do capitalismo. Essa tendência passa pelo aumento de fusões e aquisições entre empresas do setor saúde, como hospitais, escolas médicas, planos de saúde, grupos farmacêuticos e as chamadas organizações sociais (OS).
“A privatização tornou-se um poderoso vetor da estratificação do acesso e das coberturas, da fragmentação das redes de serviços e do cuidado em saúde, e da acumulação de capital”, afirma declaração política aprovada na oficina “Desprivatização dos sistemas de saúde da América Latina”, que ocorreu durante o pré-congresso da Alames, nos dias 4 e 5 de agosto. Segundo o documento, ainda há grande distância entre “a realidade de nossos sistemas de saúde e as aspirações democratizantes e socializantes que devem orientar a organização e construção de sistemas universais de saúde”.
As consequências são sentidas pela população, com aumento das desigualdades, a subordinação das necessidades e dos modelos de atenção à lógica de mercado, a fragilização do setor público e das capacidades estatais e a inviabilização de políticas universais, solidárias e redistributivas, afirmaram os participantes reunidos no encontro.

É por essa razão que, na contramão da tendência de empresariamento, Lígia Bahia e outros debatedores defendem a chamada desprivatização da saúde, ou seja, um movimento contrário, de fortalecimento do Estado como garantidor do direito à saúde, como está na Constituição de 1988. Tal guinada a favor da saúde como direito universal só é possível com participação popular e com medidas como a delimitação do papel dos agentes privados no setor saúde, revertendo a apropriação privada de recursos e a influência do mercado.
Na visão de Rosa Maria Marques, economista e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o capitalismo nega a universalidade da saúde. “A universalidade está vinculada a uma questão de cidadania”, declarou. Ela pontuou que a afirmação da saúde como direito universal e dever do Estado, na Constituição de 1988, resultou de um contexto histórico muito particular em que as lutas sociais possibilitaram reverter a compreensão da saúde como negócio.
“Nós construímos o SUS sem dispor dos recursos necessários. Começamos com o subfinanciamento que depois virou desfinanciamento”, ressaltou. Rosa Marques citou o desafio da austeridade fiscal, que segundo ela foi “alçada à política de Estado”, por meio da redução dos investimentos públicos em políticas sociais para favorecer a obtenção de superávit primário. De acordo com ela, os exemplos vão desde a Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), conhecida como “Teto de Gastos”, aprovada em 2016 durante o governo Temer, até o atual arcabouço fiscal. (L.F.S)
Direito ao trabalho digno
O trabalho organiza nossas vidas. Vivemos em torno de suas exigências para conseguir fechar as contas no fim do mês. Mas e se a lógica fosse outra? Essa foi a proposta que o professor da Universidade Nacional da Colômbia, Maurício Tovar, trouxe à mesa “Trabalho, dignidade, saúde e direitos” (6/8), coordenada por Fátima Sueli, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
“Hoje o trabalho é o organizador fundamental da vida, definindo os tempos individuais e coletivos”, disse. Para Maurício, o trabalho deve ser visto como categoria central da determinação social da saúde. “A preservação e a melhoria da saúde e da vida no trabalho constituem um aspecto central da dignidade humana e, portanto, a saúde e o trabalho devem ser considerados direitos humanos”, pontuou.
Com a pandemia de covid-19, o desequilíbrio no mundo do trabalho se tornou mais evidente. “Cresceu a informalidade, mais teletrabalho e trabalho remoto, maior intensificação das jornadas laborais, incluindo o trabalho doméstico”, afirmou o professor. De acordo com ele, vivemos um cenário de instabilidade, com maior terceirização, “uberização” e perda do tecido organizativo social.
A mesa também contou com a participação de Luiz Carlos Fadel, membro do Conselho Consultivo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), e Susana Muñiz, secretária nacional de cuidados no Ministério de Desenvolvimento Social do Uruguai [Leia entrevista].
Luiz Fadel reafirmou a importância de compreender a saúde do trabalhador como direito humano, propondo uma mudança profunda e radical na legislação que trata do assunto. “A cada três horas e meia, um trabalhador formalizado morre no Brasil”, disse, citando pesquisa realizada pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho e pelo Smartlab de Trabalho Decente, uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Já para Susana Muñiz, ex-ministra da Saúde do Uruguai (2013-2015), na gestão de Pepe Mujica, o trabalho precisa ser compreendido como um bem coletivo e não apenas individual, de forma a garantir a saúde como direito e não mercadoria. Uma de suas preocupações é como acolher a quantidade de pessoas idosas que cresce anualmente. “Há 8 milhões de pessoas com mais de 65 anos na América Latina e no Caribe. Somos o continente que mais envelhece no mundo. Até 2050, teremos 23 milhões de pessoas com mais de 65 anos”, contextualizou.
Essa realidade traz a necessidade de adaptação não apenas dos sistemas de saúde, mas dos serviços sociais. Susana propõe uma maior integração entre essas duas áreas para proporcionar uma melhora na qualidade de vida das pessoas, que possuem múltiplas e diferentes necessidades, não sendo suficiente a aplicação de um protocolo a todas elas. “O protocolo deve ser um guia. Tem que ser flexível e adaptável para cada pessoa, priorizando sua autonomia”, declarou. (P.P)

Paz como condição para a soberania
Guerras e deslocamentos forçados também refletem diretamente na soberania e na saúde, atestaram pesquisadores da Alames. Processos de violência como o genocídio na Palestina, a guerra que dura sete décadas na Colômbia e os processos de migração em toda a América Latina não contabilizam apenas mortes, mas resultam na destruição de culturas e povos em todo o mundo, adverte Román Vega Romero, coordenador do Movimento de Saúde dos Povos (em inglês, People’s Health Movement).
Na condução da mesa “Guerras, deslocamentos forçados e saúde coletiva” (6/8), o professor colombiano atestou a necessidade de uma ação concreta que ultrapasse as declarações em favor da paz e do respeito à soberania dos povos. É preciso ter um enfoque crítico da determinação social da saúde, afirmou o pesquisador, alertando que por trás dos conflitos há disputas coloniais e raciais. “Precisamos de um novo modo de convivência que não seja mediado pela guerra”, argumentou.
Sua defesa encontrou eco no que disse a conterrânea Maria Alejandra Rojas, quando destacou o protagonismo do patriarcado nas relações de poder e nas estratégias da guerra — assim como seus reflexos nos corpos femininos. Para a pesquisadora da Universidade Nacional da Colômbia, as guerras sustentam a economia legal, que é baseada em conflitos coloniais. “Em sete décadas, mais de 45 mil pessoas foram mortas em conflitos na Colômbia. Os estudos epidemiológicos, no entanto, não explicam tudo”, acentuou a professora. Para ela, são conflitos como a guerra e o narcotráfico que estão no alicerce da indústria e da ocupação do território. “Estados não são neutros”, advertiu
Professora de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (UnB), a palestina Muna Odeh citou Paulo Freire para contextualizar o que se diz sobre as guerras. Para ela, as disputas não são somente físicas, mas também se materializam nos discursos e nas narrativas. Sobre isso, comentou: “O que acontece na Palestina não é uma guerra, é a luta de um povo contra o poder colonial. Não é deslocamento forçado, é limpeza étnica. O interesse é o território”.
Ela disse ainda que em nome da “defesa da civilização ocidental”, há muito tem-se ultrapassado as fronteiras do respeito à soberania dos povos e territórios. Para ela, o que acontece em Gaza é a continuidade de um processo de ocupação colonial iniciado pelo império britânico. O perigo maior, disse a pesquisadora, é a dessensibilização do mundo diante do genocídio. “Paz sem justiça não é nada. Precisamos lutar por mudanças que mantenham a vida”, clamou. (A.D.L)

SUS como trincheira na guerra às drogas
Como a política sanitária contra as drogas poderá ter êxito, quando é pautada no punitivismo e na lógica autoritária da repressão? Toda a América Latina tem enfrentado o problema do uso abusivo de entorpecentes — aumentando, inclusive, a população em situação de rua — e questões de segurança pública, com o fortalecimento de facções que lucram majoritariamente com o narcotráfico — o que contribui para o crescimento desenfreado da população carcerária. Essas reflexões e tensionamentos foram debatidos na mesa “Guerra às drogas: cenários, interesses e atores” (6/8).
Mariano Rey, diretor de Saúde Mental e Consumos Problemáticos da Província de Buenos Aires (Argentina), afirmou que a guerra às drogas foi um fracasso em relação aos objetivos declarados: “Não diminuiu nem a oferta nem a demanda de consumo”. Para ele, a política antidrogas tem criado uma barreira de acesso para quem faz o consumo de drogas ilícitas e precisa do cuidado em saúde.
O Estado se retira do papel da assistência e do cuidado a essas pessoas, priorizando deslocar recursos para a repressão armada às facções. Com isso, outras instituições de longa permanência surgem para suprir essa demanda, muitas das vezes organizadas por grupos religiosos, como as comunidades terapêuticas. Mariano explicou que esses dispositivos “são a porta de ingresso para o que poderia ser uma construção de novos manicômios”, em sentido completamente oposto ao que foi pactuado pela saúde coletiva desde a década de 1990, com a luta antimanicomial.
Cria-se o discurso de que “as pessoas que usam drogas devem ser encarceradas [internadas] para conseguirem a cura”, afirmou Mariano. Segundo o sanitarista, é necessário que sejam formuladas políticas públicas de atuação permanente junto às comunidades mais afetadas para que seja possível gerar melhores condições de vida para a população.
Para Luciana Boiteux, advogada, mestra em Direito da Cidade e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP), “o desafio hoje para pensarmos numa política de drogas mais humanizada e respeitadora dos direitos humanos é a gente trabalhar com a efetivação nos territórios e com a organização coletiva na base”.
A pesquisadora, que também é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirma que os profissionais de saúde da atenção básica são os mais indicados para atuar nos territórios, uma vez que já fazem o acompanhamento das famílias. “Os trabalhadores da saúde estão nessa trincheira. Então, é fortalecer essa trincheira por meio do SUS e de uma política de drogas que possa ser pensada a partir da base e não autoritária, imposta pela lógica da repressão, da punição, vindo de cima”, completou. (L.S)
Mudança climática e desigualdades
As mudanças climáticas precisam entrar efetivamente na agenda política da saúde. Essa foi a reivindicação — em tom de alerta — do médico e sanitarista argentino Mario Rovere, pesquisador da Universidade Nacional de Rosário e referência na medicina social latino-americana. Para ele, é fundamental que entidades políticas como a Alames liderem esse debate no campo progressista.
Mario argumentou que a direita e a extrema-direita não negam a existência das mudanças climáticas, mas buscam nelas novas oportunidades de lucro. Ele convidou à reflexão sobre como o capitalismo — e sua prática predatória — está profundamente enraizado na sociedade global e nas crises climáticas: “Hoje é mais fácil imaginarmos o colapso planetário em função das mudanças do clima do que o fim do capitalismo. O que acabará primeiro: o planeta ou o capitalismo?”, provocou.
O sanitarista argentino fez ainda uma conexão com a cosmovisão de muitos povos originários, que compreendem a Terra como um organismo vivo, comparando o planeta ao corpo humano. Em sua analogia, as mudanças climáticas são como sintomas de que algo não vai bem, assim como a febre indica que nosso corpo precisa de cuidados. “Somos como as bactérias, que precisam se nutrir sem matar o corpo”, completou.
Christovam Barcellos, geógrafo e pesquisador da Fiocruz, reforçou a importância de tratar o clima como pauta política: “A extrema-direita não pensa a longo prazo. Cabe a nós pensarmos décadas à frente”, comentou. Ele e Mario Rovere participaram da mesa “Colapso Climático e Multilateralismo: consequências para a saúde global” (6/8).
Embora as emergências climáticas afetem todo o planeta, elas não impactam as populações da mesma maneira, penalizando mais aqueles em maior vulnerabilidade socioeconômica — como moradores de favelas e quilombos. Os debatedores criticaram a abordagem catastrófica, que tende a reduzir eventos climáticos a meros fenômenos naturais ou meteorológicos, ignorando causas estruturais.
“Claramente o catastrofismo não é o caminho para construir uma resposta política ao tema ambiental”, criticou Mario. Christovam concordou: “A abordagem catastrófica esconde as tremendas desigualdades que existem, especialmente na América Latina”. O geógrafo lembrou que o aumento da temperatura do planeta será um dos temas centrais da COP30 [Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima] e essas mudanças geram preocupações em relação aos impactos diretos sobre a saúde coletiva — como enchentes, deslizamentos e incêndios — e a respeito da capacidade de resposta dos sistemas de saúde.
Christovam enfatizou que o capitalismo se aproveita da crise climática para acumular riquezas e aprofundar desigualdades. E convidou a saúde coletiva a adotar uma abordagem oposta: “Devemos pensar em possibilidades de combater as mudanças climáticas com inclusão, redução das desigualdades e retomada de princípios fundamentais do SUS, como equidade, universalidade, integralidade e descentralização”.
Já Mario Rovere apontou caminhos para que a pauta ambiental seja “incrustada nos corações” dos atores políticos e sociais: “A questão ambiental está colocada sob uma perspectiva muito sistêmica, mas precisamos atravessá-la com uma perspectiva social — e não colocar o social de um lado e a natureza de outro. Podemos conectar e transversalizar essa relação entre uma realidade que afeta, de forma diferente, as distintas classes sociais”, afirmou à Radis. (G.T)
Futuro da saúde digital
“Para falar em saúde digital, tem que se esquecer um pouco os dados e lembrar que estamos discutindo saúde”, afirmou Luiz Vianna Sobrinho, médico especialista em bioética e inteligência artificial (IA) e professor do Programa de Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Fiocruz, na mesa “Saúde digital, ética e tecnologia: dilemas e desafios” (7/8).
Luiz sugeriu uma vigilância crítica às tecnologias a partir de uma “reforma sanitária digital” e trouxe questionamentos sobre a possibilidade de pensar as dimensões do cuidado por meio de uma abordagem puramente digital. “Como implementar essa transformação sem acirrar ainda mais as iniquidades sociais e violar a coesão das relações humanas? Como desenhar e organizar um grande sistema de saúde sem destruir aquilo que está embutido na concepção de atenção em saúde, que é o cuidado?”, ponderou. Para ele, é importante buscar a soberania tecnológica na saúde, com governança coletiva democrática e justiça social.
Já Naomar Almeida Filho, professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA), apresentou uma crítica à noção de determinantes digitais da saúde, vinculada ao conceito de determinantes sociais. Ele diz não ser possível substituir o adjetivo social por digital: “Porque digital remete de imediato a um efeito tecnológico supostamente imparcial, neutro e instrumental, enquanto social remete a relações intersubjetivas que se referem à sociedade como essa estrutura organizadora da vida de todos”, comparou. (P.P)
Três ensinamentos do movimento sanitário latino-americano por Jairnilson Paim
O sanitarista Jairnilson Paim lista três lições que podemos aprender com o movimento sanitário latino-americano para o enfrentamento às ameaças atuais contra os direitos sociais e contra a soberania dos povos:
- Trabalhar a unidade: “A primeira lição é unidade. A unidade de todas as forças progressistas da época — dentro da esquerda também — contra as ditaduras na América Latina”
- Retomar a criticidade: “A segunda questão, que considero muito importante, é o retorno e o aprofundamento da crítica, da teoria crítica, no sentido de trabalharmos com o conceito de práxis, articulando a prática teórica com a prática política”
- Manter a utopia: “E o terceiro, não perder a utopia. Não rebaixar os horizontes das mudanças”

Veja também: Assista à playlist do 18º Congresso da Alames no canal do Cebes no YouTube (https://www.youtube.com/CebesNacional) e saiba mais sobre o evento em https://congresso.alames.org/.






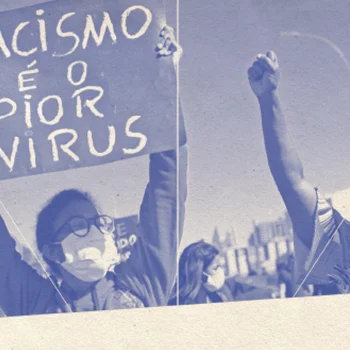

Sem comentários