Médica infectologista, pesquisadora e chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV/Aids do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), Beatriz Grinsztejn é, desde julho de 2024, a presidente da International Aids Society (IAS) para o biênio 2024-2026. Em entrevista à Radis, a pesquisadora comenta avanços e desafios no enfrentamento ao HIV/aids a partir dos temas tratados na 25ª Conferência Internacional sobre Aids (Aids 2024), que aconteceu na Alemanha, em julho.
“Mesmo tendo tratamento acessível e disponível, ainda há no mundo quase 10 milhões de pessoas que não acessam à terapia antirretroviral”, relata. Ela também fala sobre as expectativas em torno do uso da Profilaxia de Pré-Exposição (PrEP) de longa duração e da ampliação da estratégia para populações em situação de vulnerabilidade, além dos impactos das co-infecções de HIV com covid e mpox.
Beatriz explica como funciona o projeto internacional Unity, liderado por ela e que reúne, além do INI, centros de pesquisa de Brasil, Argentina e Suíça para avaliar a eficácia de um antiviral no tratamento de pessoas com mpox. “O Brasil tem dado uma contribuição importantíssima, e a gente espera que os resultados desse estudo possam ajudar a entender melhor o papel do tecovirimat como antiviral para o tratamento da mpox”, adianta.
À frente de uma das mais importantes sociedades científicas mundiais, ela comenta ainda a repercussão de ser a primeira brasileira — e a primeira mulher latino-americana — a assumir a presidência da IAS, revelando a expectativa de levar a voz do Sul global ao centro de tomada de decisões. “O processo de decolonização tem que ser contínuo. Muitas pesquisas são conduzidas na África, na Ásia, na América Latina, mas o autor principal é do Norte global. São questões críticas que a gente tem que enfrentar a cada dia, para que a nossa narrativa seja preponderante”.
Durante a conversa, a infectologista também reforça a importância do SUS na construção de pesquisa e de estratégias de prevenção, assistência e tratamento de HIV/aids, destacando o papel da comunicação na interlocução com a sociedade. “É necessário dar um salto em relação à comunicação, e mais do que nunca trazer a ciência e os resultados das pesquisas para o domínio da comunidade”.
“Mesmo tendo tratamento acessível e disponível, ainda há no mundo quase 10 milhões de pessoas que não acessam a terapia antirretroviral.”
Que desafios o mundo ainda enfrenta para atingir a meta da Unaids [Programa Conjunto das Nações Unidas sobre aids] de eliminar a aids e o HIV como problemas de saúde pública até 2030?
Durante a Aids 2024, conferência internacional que aconteceu em Munique [Alemanha] em julho de 2024, tivemos a oportunidade de discutir temas importantíssimos sobre essa agenda, rumo à eliminação do HIV, e identificamos que existem barreiras ainda muito críticas a vencer. Essas barreiras têm relação tanto com o acesso, a prevenção e o tratamento, como também com o estigma e a discriminação, principalmente com as populações mais vulneráveis — hoje uma das barreiras mais críticas para que possamos atingir os nossos objetivos. Mesmo tendo tratamento acessível e disponível, ainda há no mundo quase 10 milhões de pessoas que não acessam à terapia antirretroviral. Quando observamos a “cascata de cuidado” [A cascata do cuidado contínuo do HIV é uma das estratégias de monitoramento clínico que retrata a trajetória das pessoas vivendo com HIV/aids nos serviços de saúde, desde o diagnóstico até a supressão viral], vemos que as pessoas mais vulneráveis estão em situação ainda mais complicada, seja para ter acesso à testagem do HIV ou aos serviços de saúde, seja para acessar à terapia antirretroviral e se manterem indetectáveis. Em cada uma dessas etapas se impõem desafios para estas pessoas, que ainda têm que lidar com outras questões, como insegurança alimentar, racismo estrutural, discriminação e estigma, enfrentados pelas minorias sexuais e de gênero. Todas essas questões influenciam diretamente essa cascata do cuidado para quem vive com HIV.
“Se você olhar o Brasil como um todo, o número de pessoas usando a PrEP ainda é muito pequeno para uma política pública tão importante.”
E em relação à prevenção ao HIV?
Os desafios são enormes, apesar de hoje haver estratégias de prevenção como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que é altamente eficaz, se a pessoa consegue usá-la. De todo modo, ainda é extremamente complexo para pessoas de parte das minorias sexuais e de gênero acessarem os serviços que disponibilizam a PrEP. A gente ainda não tem a PrEP disponível nas comunidades. Há movimentos recentes em São Paulo, sugerindo a reestruturação dos serviços de saúde, de modo que ela possa ser mais acessível, mas ainda há muito a avançar, mesmo no Rio de Janeiro, que ampliou muito o acesso, ao colocar o acesso à PrEP na atenção básica. Se você olhar o Brasil como um todo, o número de pessoas usando a PrEP ainda é muito pequeno para uma política pública tão importante, que existe no Brasil desde 2017.
Que avanços científicos você poderia destacar da Aids 2024?
Tivemos a apresentação de novos resultados de uma droga para a PrEP, o cabotegravir de longa ação. Os resultados foram apresentados na conferência de 2020, ainda no meio da pandemia, e mostra que é uma droga altamente eficaz para prevenir a aquisição da infecção pelo HIV, seja na população de homens que fazem sexo com homens, travestis, mulheres trans e mulheres cis. Mesmo apresentando resultados promissores desde 2020, a implementação dessa estratégia tem sido extremamente lenta e o acesso muito desigual no mundo. Na conferência em Munique, a gente teve a apresentação dos resultados de um estudo do mesmo estilo, com uma droga chamada lenacapavir, que também é de longa ação e se mostrou altamente eficaz, conferindo 100% de proteção na aquisição do HIV entre mulheres cis na África. A gente aguarda a qualquer momento os resultados dessa mesma droga, que está sendo testada entre a população de homens que fazem sexo com homens e outras minorias sexuais e de gênero. São então dois produtos de longa ação extremamente eficazes, mas dos quais a gente não tem nenhuma garantia de acesso para as pessoas que precisam.
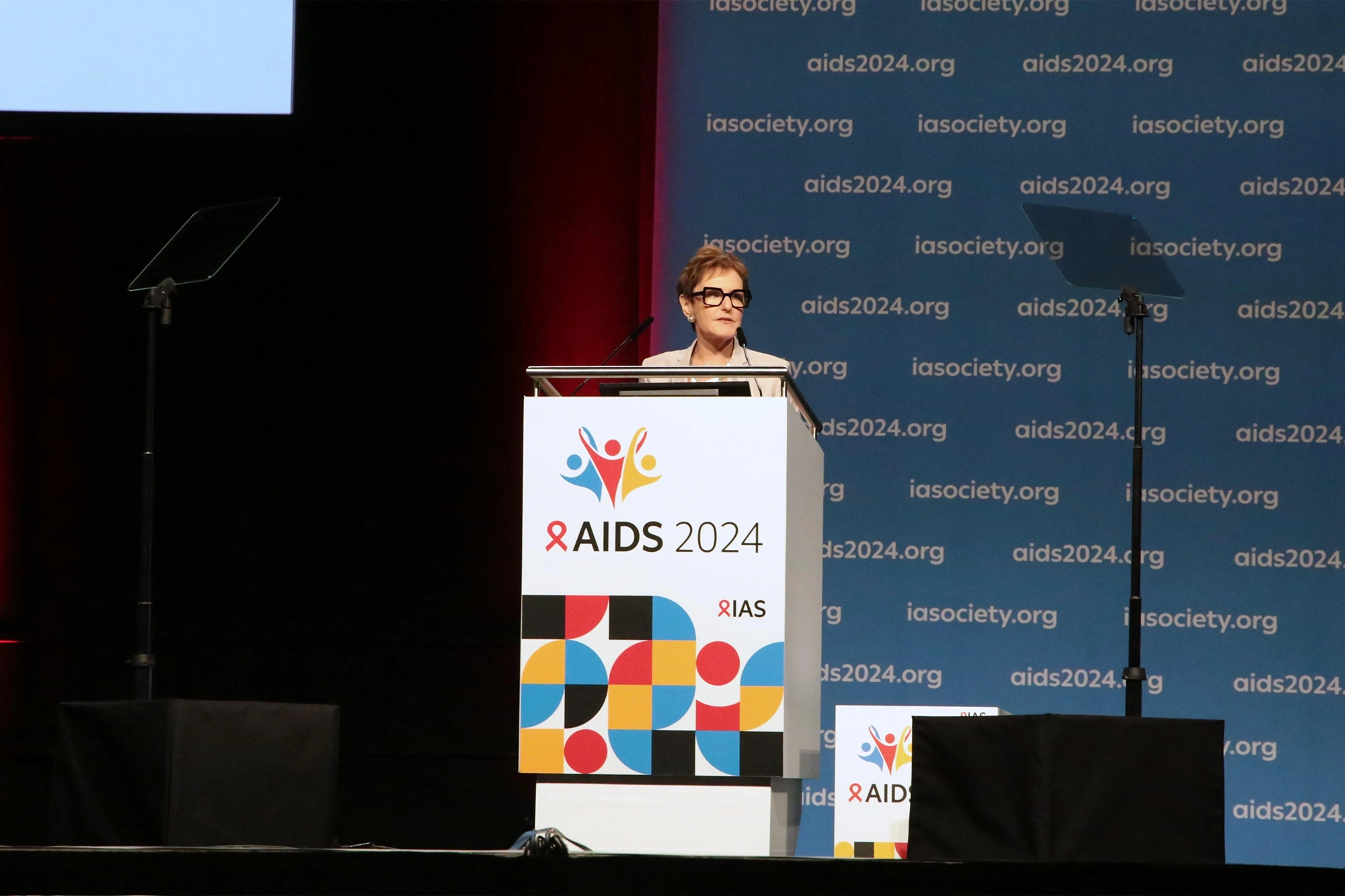
Por que garantir o acesso é tão importante?
Considero que o acesso é uma questão prioritária hoje. Neste momento, a gente está fazendo um estudo de implementação do cabotegravir, para que possamos ver como uma estratégia de PrEP de longa ação pode ser implementada no nosso Sistema Único de Saúde, que é o que nos importa. Esse tipo de pesquisa, a ciência da implementação, que avalia como novas estratégias e tecnologias podem ou não ser implementadas no SUS, é uma área que precisa avançar bastante no Brasil. Nós fizemos isso com a PrEP oral, estamos fazendo hoje com o cabotegravir e vamos ver se podemos fazer também com o lenacapavir, para avaliar como é que essa droga pode ou não vir a fazer parte do SUS, mas no final das contas tudo o que importa é por quanto o produtor vai vendê-la para o Ministério da Saúde. E essas são questões que estão além da nossa capacidade de intervenção. São negociações em um outro patamar.
E que outras contribuições do Brasil e da Fiocruz você poderia destacar na Aids 2024?
Tivemos oportunidade de levar estudos de mpox, uma infecção sexualmente transmissível que foi reconhecida novamente como emergência de saúde pública global pela Organização Mundial da Saúde (Radis 265). Isso já faz parte da nossa realidade, desde o primeiro surto, em 2022. A gente continua enfrentando o surto que ressurgiu no final de 2023 e, durante todo o ano de 2024, vem apresentando aumento do número de casos. O INI/Fiocruz é um polo de atendimento, assistência e pesquisa em mpox no Rio de Janeiro, é referência para o estado. Temos dado grande contribuição para o conhecimento e o entendimento da mpox no contexto brasileiro. Nosso avanço nas pesquisas com outras IST tem sido um papel importante da Fiocruz em relação a temas para além do HIV.
É possível a gente avaliar o impacto que essas coinfecções (mpox, hepatites virais, covid de longa duração) têm no enfrentamento ao HIV?
A pandemia de covid-19 causou um impacto enorme na pandemia de HIV porque houve uma desestruturação dos serviços prestados para as pessoas vivendo com HIV, quando outras questões se impuseram. Muitas pessoas deixaram de usar o tratamento da forma adequada. No pós-pandemia, o Brasil vê um número marcante de pessoas desengajadas do cuidado. Além disso, no país e em toda a América Latina as pessoas ainda são diagnosticadas tarde. Hoje o Brasil tem em torno de 70 mil pessoas perdidas de acompanhamento. Quando a gente imagina um país em que a gente tem tudo — tem diagnóstico, prevenção e tratamento —, temos que lembrar que uma série de outras coisas influenciam diretamente o quanto as pessoas de fato podem se beneficiar de tudo que o nosso SUS oferece.
Como a comunicação pode contribuir nesse processo?
É fundamental hoje que a comunicação se dê em relação à população jovem das minorias sexuais e de gênero, que não tem informação sobre prevenção ao HIV e sobre o que o SUS disponibiliza, e porque nas escolas nada se fala sobre educação sexual. Infelizmente, tudo que a gente tem vivido em termos de moralismo, com a direita tomando a agenda e as narrativas, resulta em total falta de informação. A comunicação é fundamental, mais do que nunca, para levar aos mais jovens a informação em relação a como lidar com as vulnerabilidades, à percepção de risco e ao que existe de disponível no nosso SUS para que as pessoas vivam uma vida sexual saudável.
“A comunicação é fundamental, mais do que nunca, para levar aos mais jovens a informação em relação a como lidar com as vulnerabilidades, à percepção de risco e ao que existe de disponível no SUS.”

Você está à frente de um estudo internacional sobre o uso de um antiviral no tratamento de pessoas com mpox. Pode falar um pouco mais do projeto?
Estamos conduzindo o estudo Unity, uma pesquisa muito importante que está avaliando o tecovirimat para pessoas diagnosticadas com mpox. Temos hoje um número substancial de brasileiros que foram incluídos no estudo, que acontece também na Argentina e na Suíça. O Brasil tem dado uma contribuição importantíssima, e a gente espera que os resultados desse estudo possam ajudar a entender melhor o papel do tecovirimat como antiviral para o tratamento da mpox. Infelizmente, a gente teve resultados negativos do tecovirimat no estudo Palm 007, conduzido na República Democrática do Congo, que não mostrou que essa droga fosse útil para tratar mpox. Mas lá é outro tipo viral, do clado 2, aqui temos o clado 1, que tem um processo de doença mais agressivo [O vírus mpox é dividido por dois clados genéticos: 1 e 2. Clados são grupos de vírus que, apesar de terem semelhanças genéticas, não são idênticos. O clado 2 foi responsável pelo surto global que começou em 2022, inclusive no Brasil]. A gente continua achando que é extremamente importante avaliar o tecovirimat para o clado 2, que circula no nosso meio, para que a gente possa ver se essa droga tem um papel no tratamento. A mpox tem uma linha de pesquisa estruturada no INI. Nós coordenamos esse estudo que acontece também em outros centros no Brasil — no CRT [Centro de Referência e Treinamento em DST-Aids], em São Paulo, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, além do Hospital Geral de Nova Iguaçu e no Hospital do Servidores do Estado, ambos no Rio de Janeiro. Essa rede de instituições trabalha conjuntamente para que a gente possa avaliar essa estratégia.
Mpox está na agenda do INI…
Nós, no INI, já somos vistos como um centro de referência em mpox, mas é importante que as pessoas entendam que estamos aqui para prestar essa assistência, sempre conjugada a estudos. Temos hoje estudos de vacina para mpox, com contactantes de pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a doença, e a gente vai começar um novo estudo, também de vacina para mpox com indivíduos que têm HIV. É uma linha de pesquisa bem ampla em relação à doença, tanto para tratamento quanto para vacinas.
Isso demonstra o quanto a pesquisa também é parte do SUS, correto?
A Fiocruz e o INI trazem isso na sua essência, ao conjugar a assistência de excelência com a pesquisa e o ensino. É parte da nossa missão institucional e a gente faz isso muito bem.
No passado, quando falar sobre aids ainda era um tabu, como foi para você desenvolver pesquisa como estratégia de enfrentamento ao HIV?
Nós viemos para cá para fazer isso. Naquele momento ainda era Instituto Evandro Chagas. Eu vim para cá assim que eu saí da residência médica, em 1988. Eu só tinha 27 anos, estou há muito tempo aqui. Desde o início, a gente teve toda uma facilitação para que isso acontecesse. A Fiocruz é um lugar único onde essa conjunção pode se dar, com menos trauma que lá fora. A Fiocruz é um exemplo para o -SUS.
E como essa experiência contribuiu para que você se tornasse presidente da International Aids Society (IAS)?
É uma construção que não foi feita propositalmente, mas que me permitiu que eu chegasse a ser presidente da IAS, um grande desafio que estou encarando agora, ver como posso trazer alguma contribuição, como uma mulher latina. Este é um momento muito interessante da minha vida profissional, por me permitir fazer com que toda essa história, toda essa vivência, e tudo isso que a gente conseguiu construir, no INI, contribua com a missão da IAS.
Alguma expectativa específica em relação a isso?
A expectativa é que a gente consiga de fato trazer a narrativa do Sul global para uma instituição que é global, que as ações realmente sejam pensadas a partir de onde a gente está, aqui no Sul global. Acredito que isso faça enorme diferença do que ter uma sociedade internacional de aids pensada da perspectiva de um presidente sentado no Norte global. Essa é a contribuição: um olhar diferenciado que a gente pode dar. É preciso decolonizar a narrativa sobre aids no mundo. Isso se reflete ainda no financiamento: as pesquisas vêm do Norte global, né? Uma coisa que nos empodera, na Fiocruz, é que a gente tem algum nível de financiamento próprio, o que permite que a gente consiga manter uma narrativa nossa. Mas o processo de decolonização tem que ser contínuo. Você vê muitas vezes pesquisas que são conduzidas em centros na África, na Ásia, na América Latina, mas cujo autor principal é do Norte global. São questões críticas que a gente tem que enfrentar a cada dia, para que a nossa narrativa seja preponderante. A gente precisa que a nossa voz e o nosso tom sejam colocados em tudo que a gente fizer. Essa é uma construção diária e uma desconstrução diária, também.
“Hoje, no Brasil, os jovens são a população que mais adquire o HIV, o que é algo totalmente inaceitável.”
Você acha que as pessoas precisam voltar a falar sobre HIV e aids?
Eu não tenho dúvidas. Acho que a gente não fala mais disso, vive um momento em que, mesmo em nível de governo, não se fala de HIV. A gente não tem campanhas; a gente não tem nada que possa trazer para discussão a situação atual da epidemia. Hoje, no Brasil, os jovens são a população que mais adquire o HIV, o que é algo totalmente inaceitável. É absurdo que a taxa de infecção cresça entre jovens entre 18 e 24 anos, com tudo que já existe para prevenir o HIV. E isso tem muito pouca visibilidade na agenda nacional. É preciso dar visibilidade a essa situação para que as pessoas possam fazer o uso do que o SUS oferece, e que não está sendo usado na sua plenitude. É preciso dar um salto em relação à comunicação, e nisso considero que vocês têm um papel importantíssimo. Mais do que nunca é preciso trazer a ciência, os resultados das pesquisas, para o domínio da comunidade. Só a parceria com a comunidade pode tirar a gente dessa situação.










Sem comentários