Mesmo de máscara, no supermercado ou no elevador, ela é reconhecida como “a doutora da Fiocruz”. Não é para menos: desde o início da pandemia de covid-19, a médica pneumologista Margareth Dalcolmo, da Fiocruz, tornou-se um dos rostos mais frequentes na mídia como uma das porta-vozes da ciência, em um esforço incansável para levar orientações e informações confiáveis para a população. Contudo, ela afirma que a empreitada assumida por ela e outros cientistas é uma luta “desigual de Davi contra Golias”, principalmente quando autoridades públicas adotam falas que deseducam a população ou recomendam medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento do novo coronavírus. “Mesmo que a gente esteja com o luto absolutamente indissociável do nosso dia a dia, carregando nas costas 210 mil mortes, as autoridades continuam dizendo que o problema está resolvido”, aponta.
Com décadas de experiência na saúde pública, a médica não tem dúvidas em afirmar que “a vacina é a única e perfeita solução de controle de uma epidemia do porte da covid-19”. Fundadora do ambulatório do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, Margareth é uma das coordenadoras principais do estudo internacional de fase 3 que avalia o uso da vacina BCG para reduzir o impacto do novo coronavírus. “O Brasil, tradicionalmente, sabe vacinar. Nós sabemos fazer campanha e podemos vacinar milhões de brasileiros num único dia para a covid-19, se nós quisermos”, afirma, em referência ao reconhecimento internacional do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Quando conversou com Radis, faltavam quatro dias para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar duas vacinas para uso emergencial no Brasil: a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa Sinovac; e o imunizante da AstraZeneca/Oxford, a ser produzido no país pela Fiocruz. Depois da liberação da Anvisa, em 17/1, uma avalanche de acontecimentos tomou os noticiários: o início imediato da campanha de vacinação, por pressão dos governadores, foi sucedido pelas notícias de atraso no envio de 2 milhões de doses compradas na Índia e dos insumos necessários para produzir tanto a vacina do Butantan quanto a da Fiocruz, o que comprometeria a estratégia de imunizar a população. Em vídeo que viralizou na internet diante desses fatos, Margareth afirmou que “é absolutamente injustificável” que um país como o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população. Em nossa conversa, ela já destacava que erros na negociação e falta de ação poderiam prejudicar a estratégia brasileira de imunização, que conta a seu favor com a experiência do SUS.
Como cientista, Margareth afirma que tem um compromisso cívico “inarredável” de orientar a população. Para ela, ciência “não é uma abstração”, mas algo concreto, que impacta a vida das pessoas, feita por gente de carne e osso. “Sobretudo num país desigual como o Brasil, ela exige que nós todos, médicos, pesquisadores, cientistas, sejamos cidadãos muito engajados pelo bem comum”, ressalta. Isso também exige a capacidade de dizer que não sabe: “A gente não pode chutar”. A médica faz duras críticas à coação do Ministério da Saúde, em ofício de 7/1, para que médicos de Manaus receitassem o chamado “kit covid” ou “tratamento precoce”, com medicamentos sem eficácia comprovada.
Para ela, a covid-19 foi “um fenômeno modificador de nossas vidas”. Ou, como costuma dizer, “um divisor de águas”. Ela afirma que gostaria de estar errada em suas previsões, mas não foi assim ao considerar que teríamos “o janeiro mais triste de nossas vidas”. “Teremos um ano de 2021 ainda muito difícil e, nos próximos dois anos, o mundo todo terá que guardar alguns cuidados coletivos de proteção”, pontua. Antes de iniciar a entrevista, Margareth foi interrompida por mensagens do serviço de saúde que coordena: “Tá um inferno minha vida, gente”, brincou. Dez minutos depois de falar com Radis, ela seguiria a maratona com outra entrevista para o jornal “Der Spiegel”, da Alemanha. Contudo, a médica revela que tem o ânimo renovado por “uma quantidade tão grande de estímulos e de mensagens tão extraordinariamente confiantes”. “Eu me sinto diante de um compromisso, de uma missão, e não me furtarei a ela, de modo algum”, resume.
Começamos 2021 com desejos de feliz ano novo, saúde e vacinas para todos. No entanto, mesmo com toda a experiência do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Brasil está atrasado em relação a outros países. Como a senhora avalia as expectativas em torno da vacinação contra a covid-19 para este ano?
Acho que o atraso foi causado por coisas não feitas no momento adequado, digamos assim. No meio do ano passado, quando várias empresas já mostravam uma enorme capacidade de desenvolver ensaios para vacinas, nós poderíamos ter começado a negociação, como outros países o fizeram, por exemplo, com a Pfizer ou a Johnson & Johnson. Inclusive porque essas empresas desenvolveram estudos de fase 3 no Brasil, o que muitas vezes é requerimento da Anvisa. Isso poderia ter sido um favorecedor para que os acordos comerciais tivessem sido feitos, mas eles não foram. Então, seguramente estamos, hoje, pagando um preço alto por isso. Poderíamos estar negociando e recebendo um número grande da vacina da Pfizer, uma vez que ela já está aprovada no seu país de origem, os Estados Unidos, e na Europa toda, pela EMA [sigla em inglês para Agência Europeia de Medicamentos]. Nunca aceitei e continuo não aceitando a desculpa de que a vacina da Pfizer é complexa por exigir uma cadeia de frio mais complexa, o que é um absurdo para um país como o Brasil, a oitava economia do mundo, onde todas as capitais têm perfeitas condições de armazenamento em super freezers de – 80°C. Isso foi sem dúvida nenhuma uma falha estratégica. Por outro lado, o Brasil foi o celeiro adequado para o desenvolvimento de estudos de vacina. E isso faz com que hoje nós tenhamos duas vacinas em vias de ser aprovadas [quatro dias depois da entrevista, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas AstraZeneca/Oxford e Coronavac]. Considero essa discussão sobre “firulas” epidemiológicas ou de resultados absolutamente inútil. Tanto a vacina da AstraZeneca/Oxford, feita pela Fiocruz em processo de transferência de tecnologia, quanto a Coronavac, feita também em transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, ambas ultrapassam o mínimo de eficácia em estudos de fase 3 exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Na gravíssima situação em que nós estamos no mundo, uma vacina que seja capaz de reduzir casos graves e de reduzir mortes, já é uma vacina muito bem-vinda, qualquer que seja ela, tendo em vista que todas responderam ao quesito de segurança de maneira muito adequada.
Quais os próximos passos? O que esperar a partir da aprovação das vacinas?
Em um país como o Brasil, nós precisaremos ter uma cobertura muito grande. E nós não vamos encontrar imunidade de rebanho se não vacinarmos pelo menos 70% da população brasileira. Então, o esforço logístico, administrativo e sanitário tem que ser imenso e começar agora. Como sabemos, o Brasil tem uma tradição em vacinas muito boa. O Brasil sabe vacinar. Nós temos experiências exitosas com campanhas de vacinação através do nosso PNI, de modo que virtualmente seremos capazes de vacinar milhões de pessoas em um só dia.
O ministro da saúde anunciou que pretende privilegiar a aplicação de uma primeira dose da vacina para um maior número de pessoas, aumentando o intervalo até a administração da segunda. O que é possível dizer sobre essa estratégia e que consequências pode trazer para a imunização da população num país como o Brasil?
Depende da vacina. Em relação à vacina da AstraZeneca/Oxford, essa estratégia não só é perfeitamente plausível como justificável em termos de saúde pública. Inclusive porque ela foi aprovada no Reino Unido para intervalos de 12 semanas. Para esta vacina, a meu juízo, essa estratégia está correta. O importante agora é que nós cubramos o maior número de pessoas no sentido de interromper essa cadeia de transmissão que está tão intensa nesse momento. A situação hoje é mais grave do que foi no meio do ano passado, durante o pico epidêmico. É a segunda onda materializada — em algumas cidades, de maneira dramática, como nós estamos vendo no Norte do Brasil e no Amazonas. Já a outra vacina, Coronavac, essa não tem muita solução, porque ela foi testada e será registrada para um intervalo de 3 a 4 semanas. Ela assim foi registrada no país de origem, que é a China, e ela assim será registrada no Brasil. Então, terá que ser dada com esse intervalo. Portanto, as 6 milhões de doses serão suficientes para vacinar 3 milhões de pessoas.
A senhora é a pesquisadora principal de um estudo que investiga a vacina BCG para covid-19. Como estão as pesquisas?
Esse é um estudo de fase 3 contra placebo utilizando a vacina BCG, que é muito conhecida no Brasil — utilizada desde 1972 e, por força de normativa do Ministério da Saúde, para todo recém-nascido no país desde 1976. Ela é usada para profilaxia, digamos assim, preventiva das formas graves e disseminadas da tuberculose. O racional desse estudo é muito interessante porque a vacina BCG é uma vacina muito particular, no sentido de que ela provoca uma imunidade muito variada. Observações em alguns países onde a vacinação BCG é feita maciçamente em todas as crianças, ou até gente mais jovem, mostraram uma redução de taxas epidemiológicas da covid-19. Por outro lado, estudos recentemente publicados, seja na África, seja agora recentemente em população idosa, utilizando BCG como protetor em população idosa, mostraram que ela foi capaz de provocar uma imunidade variada.
O que significa isso?
É uma imunidade adaptativa na pessoa adulta que protege contra outras viroses respiratórias. Ora, se ela é capaz de proteger contra outras viroses respiratórias, a hipótese é que ela também possa proteger contra a covid-19. Então, nós vamos vacinar um total de 3 mil profissionais de saúde do Brasil. Todos são testados com PCR para verificar se não estão doentes no momento da vacinação. O que nós esperamos encontrar é que, se ela não é capaz de impedir a doença, pelo menos se será capaz de atenuar a virulência dos episódios de covid-19. Esse é um estudo de fase 3, multicêntrico, internacional, coordenado pela Murdoch Institute, em Melbourne, na Austrália. E são cinco países participando: Austrália, Espanha, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos e Brasil. No Brasil, a Fiocruz é o órgão interlocutor para esse estudo. Somos dois pesquisadores, Júlio Croda (Fiocruz-MT) e eu (Fiocruz-RJ). E teremos agora um terceiro sítio da Fiocruz, em Manaus, com o pesquisador Marcus Lacerda.
Por que é importante pensar a vacinação como uma medida de proteção coletiva e não apenas individual?
As pessoas precisam entender que não há nenhuma outra solução para viroses agudas que não seja a vacina. Nenhuma outra. Vou dar dois exemplos objetivos: as viroses crônicas, como aids e hepatite C, são tratadas com remédios. Para isso, há esquemas extremamente potentes e a experiência mundial com o controle dessas doenças é espetacular, sobretudo a do Brasil, com o tratamento da aids, com os pacientes vivendo praticamente uma vida normal. Com a hepatite C, igualmente. Os tratamentos com antivirais vão muito provavelmente levar à erradicação da hepatite C no mundo. Estes são dois exemplos paradigmáticos do que são doenças virais crônicas. Mas as doenças agudas, tradicionalmente, não se tratam com remédios. Elas são tratadas preventivamente com vacinas. E aí vêm sarampo, difteria, febre amarela, todas as doenças que são agudas e, em especial, as viroses ditas respiratórias. A covid-19 é um exemplo clássico disso. Todos os tratamentos para a doença até agora revelaram resultados modestíssimos ou zero. O que salva vidas na covid 19 são, para casos graves, as boas práticas de terapia intensiva — o paciente que fica grave que é internado em CTI, ele é salvo não por tratamentos especiais, mas pelas boas práticas em terapia intensiva. Então, voltando à sua pergunta, para as doenças virais agudas, sobretudo de transmissão respiratória, a solução — e a única solução possível — são as vacinas. Como sempre foram e serão. Eu diria que o ser humano viveu uma experiência absolutamente extraordinária de, em menos de um ano, produzir quatro vacinas já aprovadas regulatoriamente no mundo. São quase 200 grupos estudando vacina dia e noite, praticamente há 10 meses, desde março do ano passado. Há 16 vacinas em fases clínicas de desenvolvimento. E uma perspectiva de que nós tenhamos um controle, se houver acesso universal e equânime, sob os melhores preceitos humanitários. Então não há dúvidas: a vacina é a única e perfeita solução de controle de uma epidemia do porte da covid-19.
Pensando a vacinação como estratégia coletiva, que papel poderiam ter as clínicas privadas, em um futuro próximo, sem que constituam uma concorrência desleal com o SUS?
Também não vejo que isso deva ser tratado como uma polêmica fundamental, porque isso seria inadmissível nesse momento, com o tamanho da tragédia no Brasil, com mais de 200 mil mortes, com muitas coisas que não foram resolvidas e com o uso absolutamente abusivo e inadequado de medicações que não servem para nada como nós temos visto na covid-19. Virtualmente, eu diria que, neste momento, cada dose comercializada na rede privada de clínica de vacina, seria cinco ou 10 doses a menos na rede pública. Provavelmente, haverá outras vacinas produzidas, inclusive com eficácia e efetividade. Porque, como eu disse, essa discussão das vacinas em termos de eficácia, eu considero uma discussão menor. A discussão nobre nesse momento é de efetividade, ou seja, o quanto da população nós vamos proteger e quanto tempo depois nós vamos precisar revacinar, cuja resposta nós ainda não temos. Eu tenho cliente que já disse: “Eu pago 5 mil reais por uma dose da vacina! Eu posso pagar”. Mas neste momento, num país obscenamente desigual com o Brasil, considero que liberar as vacinas para rede privada seria uma catástrofe. O que não quer dizer que, no futuro, uma vez estabelecida e controlada a epidemia, e considerando que o Sars-CoV-2 não é um vírus que vai desaparecer das nossas vidas — ao contrário, ele vai permanecer entre nós de maneira endêmica —, as clínicas privadas, que hoje já prestam um serviço de vacinação muito bom no Brasil, não possam oferecer todas as vacinas. Hoje, se você quiser tomar a vacina da gripe anual, por exemplo, da Influenza, no SUS, você vai tomar — todos nós tomamos no SUS. Mas se quiser ir a uma clínica privada, também tem essa vacina disponível anualmente. Mas isso demorou algum tempo, não foi feito assim competitivamente. E nem a Influenza foi uma catástrofe epidêmica como é a covid-19.
Haverá vacina para todo mundo?
Não. Não haverá vacina para todo mundo de imediato. Se nós estimarmos, somando todo mundo que está produzindo vacina nesse momento, não chegamos a 3 bilhões de doses em 2021. Ou seja, o mundo não será capaz de vacinar nem um terço da população este ano. Pela simples razão de que não tem vacina para todo mundo. Então, esse é um dado da realidade que a gente precisa incorporar. E, portanto, num país como o Brasil, a nossa estratégia, sem dúvida nenhuma, será vacinar o máximo possível, aproveitando a nossa experiência e vencendo essas tensões e esses equívocos todos cometidos pela inação flagrante até aqui. Porque há esse paradoxo. O Brasil foi, digamos, um celeiro para desenvolver bons estudos de fase 3 e não negociou adequadamente. A Janssen, por exemplo, já declarou que só vai pedir registro na FDA [Agência de Alimentos e Medicamentos norte-americana, equivalente à Anvisa no Brasil]. Quer dizer, fez estudos de fase 3 no Brasil e não vai pedir registro no Brasil. Garantir essa disponibilidade é algo que nos preocupa porque, a meu juízo, a estratégia brasileira deveria ser disponibilizar as vacinas rapidamente e vacinar o máximo possível de população.
O enfrentamento da pandemia de covid-19 esbarrou no problema de falta de coordenação e em disputas de poder entre o governo federal e estados e municípios. Como essa falta de coordenação afetou o controle da pandemia?
Considero que foi realmente um resultado muito dramático no Brasil pela falta de uma coordenação harmônica, desde o início da epidemia, que unisse autoridades, comunidade acadêmica, a ciência brasileira… Isso nunca aconteceu. Nunca. Nós vivemos num permanente embate entre uma retórica vazia das autoridades, orientando uma população cuja capacidade crítica é muito modesta. Então, nós temos uma massa, digamos assim, de pessoas muito manipuláveis, ouvindo um discurso que é paradoxal. Por exemplo, eu vou para a mídia, para as televisões, para os jornais dizendo: “Tem que manter o afastamento, criança não pode ficar perto…”. Fico parecendo uma pitonisa do mal. Eu disse: “Nós teremos o janeiro mais triste das nossas vidas”. Eu adoraria estar errada, mas eu não errei. Nós estamos tendo o janeiro mais triste das nossas vidas porque a população foi para a rua, fez festa, não fez os Natais pequenos como nós recomendamos, viajou. Eu estou tratando famílias inteiras, pai, mãe, filhos e filhas, que foram para festa, voltaram, fizeram teste, deu tudo positivo. As pessoas não ouviram. Por quê? Porque as autoridades estão aí, dizendo que não precisa usar máscara, que pode se aglomerar. Mesmo que a gente esteja com o luto absolutamente indissociável do nosso dia a dia, carregando nas costas 210 mil mortes, as autoridades continuam dizendo que o problema está resolvido.
Em que medida uma postura negacionista por parte das autoridades públicas pode influenciar o comportamento das pessoas em coisas simples, que poderiam ajudar a prevenir a contaminação?
Isso que aconteceu em Manaus, há 2 dias, foi muito triste [Ela se referia ao ofício do Ministério da Saúde enviado à secretaria de saúde da capital do Amazonas pressionando a gestão municipal a utilizar medicamentos como ivermectina e cloroquina, ambos sem eficácia comprovada contra a covid-19]. Isso do governo enviar um ofício, coagindo os médicos a usarem medicamentos que são sabidamente inócuos e que não funcionam para a doença, é algo que nós nunca vimos antes. Que eu tenha conhecimento, isso não aconteceu em nenhum outro lugar no mundo a não ser no Brasil e é inadmissível. A isso se soma a inação de determinados órgãos de classe, o que também não nos surpreende muito nesse momento. Então, a opinião pública fica muito confusa. Tem uma doutora ou doutores que vão à televisão e dizem uma coisa. Mas o presidente da República diz outra coisa, o ministro da saúde diz outra coisa. Conviver numa realidade como essa tem sido algo que não atrapalha o nosso trabalho, porque o nosso compromisso é absolutamente inarredável, mas confunde as pessoas. Nós passamos o dia todo respondendo perguntas dos pacientes, sobretudo os pacientes mais desvalidos, que vêm dos serviços do SUS onde nós também trabalhamos. O paciente que vê televisão, ouve as notícias internacionais, ele é mais informado, fica mais fácil orientá-lo, e esses estão mais protegidos. Esses costumam nos ouvir, mas o povo mais desvalido fica muito confuso.
Segundo declarações que a senhora mesma já deu, as vacinas foram um dos grandes marcos da ciência no século 20. O que explica que, em pleno século 21, uma parcela considerável da população brasileira não queira se vacinar contra a covid-19?
Esse foi outro fenômeno que nos surpreendeu negativamente porque o nosso Programa de Imunização é algo tão tradicionalmente bom, positivo e eficiente que criou uma cultura da credibilidade nas vacinas no Brasil. O povo brasileiro acredita nas vacinas. Os pacientes chegam para nós, na Fiocruz, e têm orgulho de mostrar a carteirinha do seu filho completa ou orgulho de dizer: “Doutora, eu tomo a vacina da gripe todo ano”. O brasileiro tradicionalmente confia nas vacinas, o PNI realmente é um êxito. O que considero que é responsabilidade das autoridades atuais foi desconstruir uma confiança muito arraigada da população brasileira em relação às vacinas. Olha o que houve de adesão, em 2020, à vacina contra a gripe! Nós nunca vacinamos tanto em abril. Porque todo mundo foi lá imaginando que ela pudesse gerar também alguma proteção contra a covid-19 naquele momento. Então, o que está acontecendo aqui e agora é um desserviço prestado pelas autoridades no sentido de tirar a confiança das pessoas em algo que elas tradicionalmente acreditam. Como os chamados movimentos antivacinas, que nunca prosperaram muito no Brasil e agora passaram a prosperar, retroalimentados por esse discurso oficial que é um desserviço ao país. Eu considero que os movimentos antivacinas são criminosos. Mas o Brasil, tradicionalmente, sabe vacinar, nós sabemos fazer campanha, nós podemos vacinar milhões de brasileiros num único dia, se nós quisermos, nós poderemos fazer isso para a covid-9.
Qual é o papel da ciência nesse momento em esclarecer a população diante de um contexto de proliferação de desinformação e do negacionismo científico? Como disputar a narrativa da vacina?
Sempre tenho muito cuidado para não falar da ciência como algo abstrato. Quer dizer, a ciência não é uma abstração, sobretudo num país desigual como o Brasil, ela exige que nós todos, médicos, pesquisadores, cientistas, sejamos cidadãos muito engajados pelo bem comum, em última análise. Quando nós vamos a público e dizemos “vacinar é o gesto de proteção coletiva” e “ao me vacinar, eu estou me protegendo e protegendo a minha família, os meus amigos”, esse é um componente de consciência cívica. É um ato civilizatório. É preciso que nós continuemos nessa saga. Eu continuarei. Outros pesquisadores da Fiocruz têm sido extremamente presentes, têm vindo à mídia e aos órgãos que chegam às pessoas. Mas isso é insano. E por quê? Porque paralelamente a nós tem alguém que diz outra coisa e esses ‘alguéns’ que dizem outra coisa são ‘alguéns’ que estão no poder. Isso cria uma tensão que tem sido muito deseducadora para o Brasil, tem feito muito mal ao país.
Qual seria a mensagem agora?
Dizer a verdade, sem dúvida, sempre, mas passar uma mensagem positiva: “Olha, gente, tá chegando. Nós estamos atrasados? Estamos! Demoramos a comprar seringa e agulha, demoramos? Mas vamos resolver”. Tenho dito que não é hora de fazer cartel, aumentar preço, nada disso. É hora de ser patriota e produzir vacina, produzir seringa e agulha para todo mundo. Que negócio é esse que a indústria brasileira, com o parque industrial que o país tem, não pode ter 200 milhões de seringa e agulha, gente? Se nós erramos previamente porque deixamos de produzir no Brasil, como aconteceu com os equipamentos de proteção individual (EPI), ficamos todos de joelhos diante da China — e não foi só o Brasil, os Estados Unidos também —, porque deixamos de produzir e ficamos à mercê desse que é um grande mercado a baixo custo, com a epidemia de covid-19 ficou claro que todos os países têm que estar abastecidos para uma outra eventual emergência. Até porque nós sabemos que a covid-19 não será a última epidemia de nossas vidas, infelizmente.
Existem duas incógnitas em relação ao novo coronavírus que preocupam os cientistas: a reinfecção e as novas cepas. O que a ciência já sabe sobre as reinfecções, em relação às características da doença e aos sintomas?
Em relação à reinfecção, nós já sabemos que elas poderão haver, mas elas serão poucas. Nós consideramos reinfecção pelo Sars-CoV-2 quando há um intervalo de pelo menos 90 dias entre um episódio e outro, e nos quais os dois RNAs tenham sido recuperados. Então, muitos casos que se dizem reinfecção agora talvez sejam casos que não tenham sido covid no primeiro episódio. Foram casos leves que nunca fizeram nem PCR, porque eles vêm de uma época em que não tinha tanta disponibilidade de teste — e esse foi um outro erro do Brasil, o Brasil não investiu na testagem massiva. Por isso é que vocês me viram muitas vezes defendendo o modelo da Coreia do Sul, que é um modelo ideal de controle epidêmico, onde o governo desde o início deu máscara para toda a população e testou todo mundo — teve teste até em sinal de trânsito. Então, reinfecções, haverá, mas elas serão poucas, não posso afirmar se elas serão raras — porque o que nós chamamos epidemiologicamente rara é um caso em um milhão. Talvez elas sejam pouco comuns ainda mais considerando que o Sars-coV-2 não vai desaparecer — ele vai ficar epidêmico entre nós, a covid-19 fará parte do diagnóstico diferencial de qualquer doença viral que nós venhamos a ter.
E em relação às novas cepas, o que significa a mutação de um vírus e o que isso pode comprometer a estratégia de imunização?
Ao contrário do vírus da Influenza que é altamente mutante, o vírus Sars-coV-2 é um vírus considerado pesado, na linguagem epidemiologista. Quer dizer, ele muta pouco, não muito. Mas muta, afinal, é um vírus pandêmico, está espalhado no mundo inteiro e já houve mais de 400 mutações. O que quero dizer é que esse valor é considerado pouco pelos virologistas e nenhuma dessas mutações foi capaz de mudar a sua virulência. Eu não sei quantificar o quanto esta nova cepa é responsável pelo aumento de casos neste momento. Nós não temos esse dado. Agora, seguramente, já foi detectada e está circulando no Brasil. Essa cepa — que surgiu na África do Sul e rapidamente estava na Inglaterra — reúne três mutações que nós já conhecíamos de antes, mas elas se juntaram. Possivelmente, isso vai acontecer. Nenhuma dessas mutações — nem juntas nem separadas — conferiu ao vírus uma capacidade maior de causar casos graves ou aumentar a mortalidade. O que elas conferiram foi uma capacidade maior de transmitir.
A senhora se tornou uma das porta-vozes mais importantes da ciência brasileira e foi chamada pelo jornal “O Globo”, no fim de dezembro, de “A mulher do ano”. Como ficou a rotina da médica, cientista e, além de tudo, profissional incansável na relação com a imprensa em meio à pandemia?
Em última análise, eu diria que a gente só está trabalhando mais. Eu já trabalhava muito, porque trabalho na Fiocruz, faço pesquisa clínica, estou conduzindo um ensaio clínico dos mais importantes para reduzir o tempo de tratamento da tuberculose — junto com o INI/Fiocruz e ao lado da pesquisadora Valéria Rolla —, além do ensaio clínico da vacina de fase 3, então, são muitas responsabilidades institucionais. E eu tenho muitos doentes. Atendo pessoas, trato pessoas, faço a medicina clínica. Se antes eu já trabalhava em média 11 ou 12 horas por dia, hoje estou trabalhando mais ou menos 15, e considerando toda a rotina da vida normal, sobretudo com menos ajuda inclusive na vida doméstica. Ainda escrevo semanalmente para O Globo [À convite do jornal, desde março, Margareth Dalcolmo integra o time de especialistas que assina a coluna “A Hora da Ciência”, escrevendo sempre às terças-feiras]. Tudo isso tem sido realmente um desafio, mas é um desafio possível, sobretudo porque — vou ser muito sincera — recebo inúmeras mensagens tanto através da Ouvidoria da Fiocruz quanto por meio das redes sociais. São pessoas que a gente nem conhece e que encaminham uma quantidade tão grande de estímulos e de mensagens tão extraordinariamente confiantes que eu me sinto estimulada a não me recusar a participar e a falar daquilo que eu sei. Em geral, eu sou muito parcimoniosa e não falo daquilo que não sei.
Como cientista, como tem sido lidar com toda essa visibilidade?
Um jornalista me perguntou um negócio e eu falei: “Olha, isso eu não sei, não posso responder”. Ele então me disse uma coisa curiosa: “Mesmo quando a senhora diz que não sabe, nós ficamos tranquilos, porque quando a senhora diz que não sabe é porque muito provavelmente outros também não sabem” [risos]. Eu achei graça de ele me dizer aquilo. Porque achou que eu respondi com tranquilidade. E eu disse a ele: “Mas cientista sério tem que dizer que não sabe, quando não sabe. A gente não pode chutar. Toda vez que vocês me perguntam: ‘O que a senhora acha…?’, eu respondo: ‘Olha, eu não acho nada. Eu acho aquilo que está publicado, que mostrou consistência científica, que é uma informação robusta”. Então, eu diria que, ao longo da vida, nunca me furtei a me manifestar quando se tratou de coisas importantes. Às vezes me chateia quando vem uma mensagem desagregadora, quase ofensiva — claro, eu não sou insensível —, mas isso é uma em 100. Recebo mensagens diariamente do Brasil inteiro, de brasileiros morando no exterior, de estrangeiros — até porque dei muita entrevista pra revistas e jornais internacionais —, que me pedem: “Explica isso, porque quando você fala a gente entende”. Uma vez, brinquei com a professora Ester Sabino, uma virologista brilhante que descreveu o genoma rapidamente no Brasil: “Ester, o que eu faço é pegar o RNA que você descreveu e transformar aquilo em alguma coisa que não precisa ir no microscópio para ver” [risos]. Então, é isso: eu tento fazer. E acho que muitas vezes tem dado certo. Quando as pessoas me param na rua ou me encontram esperando o elevador — e mesmo de máscara me reconhecem —, é uma coisa muito bonita. Mais de uma vez, no supermercado, fui parada por gente que diz: “A senhora é a doutora da Fiocruz”. Isso mostra a afabilidade do povo brasileiro e a confiança que, eu acho, nós estamos passando. Me sinto diante de um compromisso, de uma missão, e não me furtarei a ela, de modo algum. Vou continuar.
Para finalizar, gostaria de voltar ao início da entrevista e aos nossos desejos de feliz ano novo. É possível imaginar que, daqui a um ano, em janeiro de 2022, a vida já esteja mais parecida com o que conhecíamos de normalidade? Ou mesmo com a vacina ainda viveremos um tempo longo de restrições em que se manterão o uso da máscara, o distanciamento físico e a ausência de abraços? Já é possível falar da vida pós-pandemia?
Quando nós falamos de dezembro de 2019, é como se estivéssemos falando de algo muito distante e não de um ano atrás — até escrevi um artigo com o título: “Saudades de dezembro de 2019”. Mas eu também costumo dizer que a covid-19 foi um fenômeno modificador das nossas vidas, não tenho dúvidas. Até porque o vírus não vai embora, ele será endêmico entre nós. Não vamos cobrir a população com uma taxa de proteção coletiva suficiente para que nós voltemos a ter uma vida como ela era em dezembro de 2019. Acho que teremos um ano de 2021 ainda muito difícil e que nos próximos dois anos o mundo todo terá que guardar alguns cuidados coletivos de proteção. Seria uma insanidade, por exemplo, não usar máscara, mesmo depois de vacinado, ao entrar em um ônibus ou um trem ou pegar um avião para viajar. Estou chamando esse fenômeno de um “demarcador de águas”. Acho que a vida é antes e depois de uma epidemia desse porte. E sobretudo com a consciência de que essa não será a última epidemia – infelizmente, eu adoraria dizer o contrário, como adoraria ter errado em relação ao janeiro triste. Não acho que a vida no planeta Terra esteja ameaçada neste momento nem por atos terroristas nem por meteoritos que vão cair na Terra e tapar o Sol. A vida no planeta está ameaçada por epidemias. O homem trata muito mal o planeta. Se pensarmos que o maior celeiro de coronavírus, por exemplo, é a nossa Amazônia e nós continuarmos a tratar a nossa Amazônia como estamos tratando, poderemos ter a próxima epidemia nascendo do Brasil. Considero isso algo que nós todos devemos saber, até porque aprendemos isso com os virologistas. É isso.
Acho que esse jornalista estava certo. Ouvir a senhora tranquiliza e dá uma certa ordem a essa desordem que a gente está vivendo.
Estou tentando, mas pelo visto não estou conseguindo muito. A briga é muito desigual [risos]. É Golias e Davi.
A entrevista completa com Margareth Dalcolmo será publicada em nossa edição 221 (fevereiro), com outras informações.
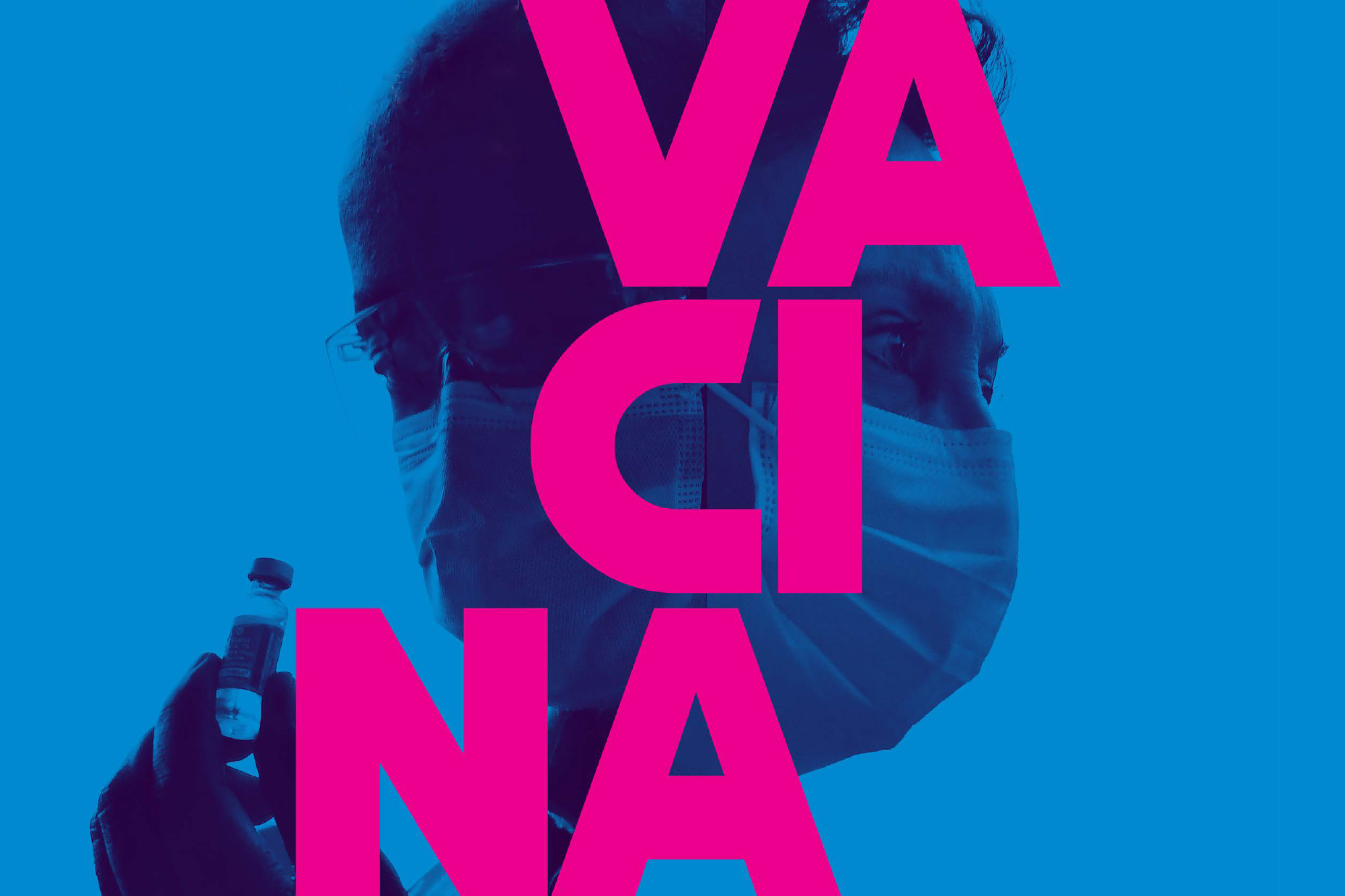









Sem comentários