“Com 2.782 casos e 40 mortes, microcefalia se espalha pelo Brasil”. Era essa a manchete em 22 de dezembro de 2015. Naquela época, a antropóloga Soraya Fleischer estava fora do país realizando uma pesquisa de pós-doutorado, quando foi surpreendida pelo noticiário. O número assustador nem de longe dava conta do tamanho do problema que deixava famílias atordoadas e intrigava profissionais de saúde, autoridades sanitárias, cientistas. Pouco ou nada se sabia sobre as crianças que nasciam com cabecinhas desproporcionais ao corpo — “microcefalia” era apenas o nome técnico e a característica mais visível de um quadro diagnóstico complexo que ficaria conhecido mais tarde como “Síndrome Congênita do Vírus Zika”.
Com a experiência de cientista social e um projeto de pesquisa na bagagem, ela retornou ao Brasil. Pouco tempo depois, reuniu um grupo de pesquisadoras da Universidade de Brasília (UnB) onde é professora e desembarcou no Recife, uma das cidades do Nordeste mais afetadas pela epidemia de zika. Durante quatro anos, entre 2016 e 2020, elas conviveram assiduamente com cerca de 15 famílias. Conheceram Jusikelly, Inabela, Claudinete, Jennifer, a mãe do Daniel, a mãe do Luquinhas, muitas mulheres que adoeceram com o vírus zika durante a gestação e tiveram crianças com a síndrome, outras mães, avós, irmãs, que se revezam nos cuidados dos pequenos — os pais, muitos, acabaram por abandonar as famílias depois do diagnóstico difícil; alguns outros, porém, permaneceram e também estão na pesquisa coordenada por Soraya Fleischer.
Sete viagens e cerca de 1.800 páginas de diários de campo depois — e com a certeza de que as histórias e os dados extrapolam os espaços biomédicos e burocráticos, como escreveu mais tarde —, Soraya e sua equipe lançaram no ano passado o livro “Micro: contribuições da antropologia”. Antes disso, vinham reunindo os resultados da pesquisa em artigos para revistas, ensaios fotográficos, eventos, seminários e ainda no blog “Microhistórias” com relatos que, assim como o livro, prezam por uma linguagem direta, deixando os leitores próximos, quase íntimos, de cada uma daquelas famílias.

Ainda hoje, se lhe perguntam o que mais lhe impactou em campo, Soraya diz sem titubear: “O esforço que essas mulheres fazem para ler o mundo e criar esperança”. Foi o que contou à Radis nesta entrevista concedida por telefone, num momento em que as pesquisadoras retomaram o contato com as famílias para uma nova investigação — desta vez, para entender as consequências da pandemia de covid-19 sobre suas vidas. Uma das idealizadoras do Mundaréu — podcast de divulgação científica que valoriza as histórias de pesquisas em Antropologia —, Soraya entende que o cientista é mais do que um mero compilador de dados. Aqui, ela explica por quê.
[Leia a entrevista completa, que é parte da reportagem de Radis para a edição de março sobre o cotidiano de luta e esperança de mulheres que tiveram filhos com microcefalia durante a epidemia de zika.]
De onde vocês partem para a pesquisa com as mães cujas vidas foram impactadas pela epidemia de zika?
Quando a gente chega no Recife, em outubro de 2016, as crianças estavam completando seu primeiro aninho de vida. Tudo estava muito no início ainda, muita gente sem saber o que acontecia, crianças recebendo diagnóstico, protocolo de estimulação precoce ainda sendo definido, a malha de serviços na Grande Recife sendo amarrada, tudo em suspenso. A gente chega, então, para duas semanas. Claro que tínhamos algumas hipóteses iniciais, perguntas a serem respondidas, mas precisávamos ver na prática por onde a pesquisa ia caminhar. E a gente é muito sensível ao que as pessoas nos dizem porque temos uma crítica forte a uma ciência que chega com o modelo “forma de bolo” para fazer com que as pessoas caibam na sua teoria. A antropologia se ressente muito disso. A gente não acha que deve ser assim. É preciso ouvir as pessoas porque elas são fundamentais para desenhar a nossa metodologia.
E o que a sua equipe ouve daquelas mulheres, quando chega em campo?
A gente ouve que a mídia sumiu — porque, claro, em 2016, houve o golpe contra a Dilma [Roussef], então a mídia foi cobrir o golpe, depois a mídia foi cobrir Copa do Mundo, são outras as manchetes. Depois, a gente ouve que o cientista sumiu — porque afinal começou a sumir o dinheiro das pesquisas com o governo de [Michel] Temer, e isso só piorou desde então. E a gente ouve que os serviços estavam fechando as portas para as crianças, os serviços de reabilitação principalmente, porque, no caso das crianças acometidas pela síndrome, a melhoria é lenta, então, elas já começaram a perder visibilidade. Essas mulheres começaram a nos falar de vários abandonos. Elas falavam nesses termos.
Vocês passam então a conviver com essas famílias ao longo de quatro anos. Como foi todo o percurso até chegar ao formato do blog com as “microhistórias” e do livro lançado no ano passado?
A gente não sabia que ia focar nas histórias de vida. Isso foi acontecendo. E foram elas, as mulheres, que me sugeriram uma série de questões metodológicas de como fazer a pesquisa e também de como escrever depois essa pesquisa. Quando a gente toma a decisão de voltar várias vezes e ficar com as mesmas famílias, a gente vai criando uma relação de confiança. Elas dizem: “Pô, a Soraya fala que volta e volta”. Isso é fundamental. Elas vão se sentindo à vontade para falar comigo, para me contar coisas e vão me chamando para espaços menos estruturados, menos formais. Antes, elas foram muito bombardeadas por cientistas de todos os tipos. Mas elas me dizem: “A gente já cansou de responder as mesmas coisas”. Parece que tem um script com um tipo de repertório de perguntas muito associado ao mundo biomédico, em que elas já sabem o que responder, o que é certo, o que se espera delas. Mas acaba parecendo um enquadramento dentro de consultório, com um formulário a ser preenchido e 15 minutos para respostas. Quando elas veem que eu volto e que sou uma pessoa informal, que topo convites que elas me fazem, elas nadam de braçada. “Soraya, meu irmão vai fazer aniversário, você quer ir conhecer?” Quero! “Soraya, você vem de ônibus com a gente buscar uma cesta básica e depois me acompanha até a farmácia pra pegar um remédio?” Vamos! “Você pode carregar a minha bolsa pra eu segurar a criança?” Carrego. “Vou tomar uma cervejinha no boteco da esquina no final do dia. Você vem comigo?” Vou! E por outro lado: “Soraya, quero te apresentar minha pastora, você quer ir conhecer a minha igreja que me acolheu mais do que a minha família de sangue, na época”. Puxa, é claro que eu tenho que conhecer essa comunidade religiosa.
Esse também é o papel do cientista social…
Sim, claro. Elas foram sacando que esses convites para conhecer as suas vidas foram aceitos. Isso vai abrindo um espaço emocional que também é político. Todas as histórias que, aparentemente não eram ligadas à investigação científica, essas histórias me interessavam. Porque eu sei que elas têm uma ligação. Como cientista social, sei que existe contexto. Então, quando elas me diziam: “Quero te contar da minha separação com o meu marido, você quer ouvir?”. Quero. Claro. Eu sabia que as relações conjugais foram superafetadas no início da epidemia, então, aquilo era importante. Ou no caso de ir até a uma igreja evangélica, é claro que religião tem a ver com saúde. Eu queria ir na congregação ver como as pessoas olhavam para aquela criança que tinha a cabeça pequena, queria saber se a pastora pegava no colo, se fazia menção aquele que era um problema de saúde pública. A gente precisava deixar que as pessoas nos contassem o que quisessem nos contar porque elas também estavam traçando uma lógica em relação à zika, à síndrome, ao filho.
E como essas mulheres foram dialogando com a ciência que chegava até elas?
Elas reclamavam muito de que elas tinham participado de uma série de pesquisas e não haviam recebido o resultado de nenhuma delas. E quando essas mulheres me falavam isso eu pensava na gravidade desse fato. Porque os corpos dessas famílias — das crianças principalmente, mas das famílias como um todo — foram biologicamente devassados pelas agulhas, pelos instrumentos que colhem pele, pedacinho de cabelo, urina. Essas mulheres colocaram suas crianças a serviço da ciência e aí, depois, elas ouvem coisas assim: “Puxa, mas a linguagem dos nossos artigos é muito difícil”! Ou então a jornalista diz: “Eu queria te mandar o link para a matéria, mas você não vai entender porque o texto está em inglês”. Nesse momento, eu pensava que não podia cair no mesmo lugar. Então, entre uma visita e outra, a gente também foi levando para elas os nossos resultados. Porque eu até escrevo em “antropologuês”, em revistas com jargões científicos fortes, mas pensei que podíamos escrever outros tipos de textos, mais curtos, numa linguagem mais direta. As microhistórias do blog foram sendo desenhadas assim. Ou seja, mais uma vez, foram elas que nos deram essa dica. O próprio livro também tem capítulos curtinhos. Tudo isso é proposital.

Que histórias ou momentos em campo mais impactaram a antropóloga e pesquisadora, que também é mulher e mãe?
Tem duas coisas que mexem muito comigo. A primeira delas é que fico muito impactada com o esforço que essas mulheres fazem para ler o mundo e criar esperança. E elas fazem isso, de forma maior ou menor, todos os dias. Como você cria esperança vivendo apenas com o valor de um salário mínimo do Benefício de Prestação Continuada (BPC)? Como você cria esperança vendo as políticas públicas se deteriorar e o Estado diminuir? Com quais recursos você pode contar para desenhar um futuro para seu filho? Mas elas me balançavam todos os dias porque mexiam com a ideia equivocada e limitada de que ter um filho com deficiência podia ser fardo ou tristeza. Elas faziam festa, morriam de rir com a criança, queriam que seus filhos vivessem uma vida plena, com os outros filhos, socializassem com os vizinhos. Elas faziam questão de marcar as datas, de fantasiar no Carnaval e dizer: “Hoje, eu vou vestir meu filho de Lampião porque a Maria Bonita vai estar lá e no futuro eles podem namorar”. Essas coisas assim falavam diretamente ao meu coração. Mas outras histórias iam no meu fígado.
Por exemplo?
Por exemplo, o modo como essas mulheres me contavam que eram tratadas em alguns espaços. Todas as incoerências do Brasill são revividas dentro de um consultório. Ali, você pode encontrar fortemente o racismo, a homofobia, o machismo e o classismo. Elas falavam: “Aquele doutor é um ignorante!” Eu acho esse um termo sensacional. Puxa, o cara é superestudado, tem diploma e tal, mas ele é “ignorante”. Pode parecer um paradoxo, mas elas estão falando de um outro saber que muitas vezes o médico desconhece e ainda de respeito e de humanidade. Elas estão falando de como tratar um outro ser humano no meio da sua dor, de como respeitar esse ser humano, mesmo que lhe falte um dente na frente, mesmo que ele tenha uma cor da pele que ele não valoriza, mesmo que não tenha dinheiro no banco. Essas histórias me atravessavam muito. E elas nos dizem sobre a medicina, a enfermagem e outras áreas de reabilitação, mas elas dizem também sobre a luta de classes, diária, que temos em nosso país. Agora, eu sou uma cidadã antropóloga. Eu não sou uma cientista “neutra”, que não se abala com o que encontra em campo. Eu me abalo e muito.
Desde a epidemia de zika, do diagnóstico confuso para a síndrome, dos protocolos incipientes, até hoje, o que mudou?
Eu acho que houve um ganho muito grande em termos, por exemplo, da ciência do zika: como o vírus chega no cérebro, qual tipo de reverberação neurológica tem ali, como é transmitido, tudo isso avançou demais. A gente saiu de um momento de instabilidade científica gigante para um momento em que estamos quase próximos de uma vacina contra a zika. Hoje, o diagnóstico é muito mais rápido, o tipo de exame que precisa ser feito imediatamente, a janela imunológica, quando começa a estimulação precoce, que tipo de estimulação precoce funciona melhor. Tudo é muito mais conhecido. Da época que a gente começou a fazer a pesquisa para cá, também está muito mais claro quantas vezes por semana precisa fazer fisioterapia, qual o tamanho dessa função, é melhor ir todo dia ou é melhor ir menos dia e cansar menos a criança e repetir em casa? Sabe, essas coisas estão muito mais acertadas. Quem teve filho mais recentemente conta com esse protocolo mais estabelecido.
E em relação às políticas públicas de saúde e de assistência? Há no livro uma crítica a essas políticas — ou melhor, aos desmonte que elas vêm sofrendo. O que pode ser considerado conquista depois de cinco anos?
Houve muita pressão por parte das mães e hoje as crianças com a Síndrome Congênita do Vírus Zika tem prioridade no acesso ao BPC. Elas também conseguiram estabelecer uma cota grande do “Minha Casa, Minha Vida” [A portaria nº 321, de 14 de julho de 2016, dá prioridade a candidatos que possuam na família crianças com microcefalia decorrente do vírus zika, com direito a apartamentos térreos por conta da dificuldade de locomoção]. Algumas cidades garantem o passe livre no transporte público a essas mães e municípios do interior disponibilizam vans para conduzi-las aos serviços de saúde. Mais recentemente, essas famílias passaram a ter direito a matricular os seus filhos na creche com acompanhamento de um auxiliar de educação. Mas há sempre muita burocracia. Também teve uma grande vitória que foi a garantia da pensão vitalícia [Medida Provisória de setembro de 2019 concede Pensão Especial Vitalícia às crianças nascidas entre 2015 e 2018 com a síndrome]. Mas ao mesmo tempo isso traz junto algo muito capcioso.
O que seria?
Para ter direito ao benefício, essas mulheres tiveram que abrir mão de processar o Estado futuramente. Quer dizer, muitos desses direitos só foram garantidos porque o Estado assumiu a sua responsabilidade em relação à epidemia de zika: por não fazer saneamento básico, não ter um plano de anticoncepção decente, uma série de coisas. Mas agora para ter direito à pensão, essa mulher tem que desistir de ações judiciais movidas contra o Estado em relação à zika. Ou seja, você tira de uma pessoa o direito de processar o Estado. Se ela se sentir ainda lesada, ela não pode fazer mais nada. De qualquer maneira, tem um conjunto de direitos sociais que elas foram conhecendo à época, sozinhas, mas que também está muito mais estabelecido hoje. Agora, quando uma mulher tem uma criança com a síndrome, ela já vai receber um pacote de informações muito mais fechadas sobre o que precisam fazer, a quem recorrer. Isso, certamente mudou demais. Mas também é preciso ser dito que, daquele tempo para cá, as portas dos serviços foram fechando em termos de vagas. Isso é muito preocupante.
Neste momento, como essas famílias são impactadas pela chegada da pandemia de covid-19?
São muitas perdas. Quando essa outra epidemia chega, desorganiza um monte de coisas que essas mães tinham conquistado. Um dos aspectos a ser observado é que, por conta do isolamento social, os serviços fecham e isso gera uma cadeia de complicações. Por exemplo, há todo um arranjo de medicamentos específicos para evitar as crises espasmódicas em cada criança. As mães têm verdadeiro pavor das crises porque, claro, a cada crise a criança vai perdendo o que tinha avançado até ali, e, no caso de uma crise muito forte, ela pode inclusive sucumbir. Acontece que, quando chega a covid, fecha tudo, inclusive os serviços de acompanhamento médico e os serviços de troca de receita e aí os remédios vão perdendo a validade. Essa criança passa a ser medicada por telemedicina, mas até a conexão de internet dessas mulheres e plano de celular são muito precários, então, a telemedicina também fica limitada. Os remédios começaram a escassear e as crianças voltaram a ter crise. Uma criança de cinco ou seis anos pode voltar ao mesmo estágio de antes. É desesperador para essa mãe até a lembrança de voltar aquele início em que ela não sabia o que fazer com a criança. E esse é só um dos aspectos.
Que outras complicações a pandemia pode trazer para essas famílias?
Imagina uma criança que faz reabilitação por três, quatro ou até cinco vezes por semana e agora passa a fazer tudo em casa. Isso também gera perdas. Elas estavam dando os primeiros passos e já não conseguem mais, as mãozinhas vão atrofiando e voltando à forma de garras, elas vão perdendo a capacidade de comer a comidinha amassada. O problema é que, quando chega uma outra epidemia como a covid, ela concorre demais em termos de serviço do sistema. Não podemos esquecer que essas são crianças imunodeprimidas, com muita chance de pegar uma gripe ou uma pneumonia. São crianças que têm dificuldade de deglutição. E se elas precisam de uma emergência? As emergências estão ocupadas com a covid. Eu não estou falando só de ambulatório, estou falando de UTI pediátrica, de pneumologistas, que agora estão muito mais atentos à covid do que a essas crianças. Então, imagino que a covid tenha sido algo absolutamente amedrontadora para essas mães. Lembre que, mesmo em isolamento social, muitos pais e membros da família não puderam fazer home office, ou seja, houve o risco de trazer o vírus da rua. No ano passado, muitas delas nos diziam que se viam no meio da escolha de Sofia: “Ou eu saio com a criança para a fisioterapia quando o serviço reabrir, mas eu corro o risco da covid, ou eu fico em casa protegida, mas acometida pelas consequências da zika”. O nível de responsabilidade dessa mãe se torna muito complexo. Nós estamos falando de situação de periferia, de famílias de classe baixa que vivem com um ou dois salários mínimos. Outra coisa que a covid traz é essa atomização social. As mães deixaram de ir para as associações, os grupos, as ONGs de apoio. Elas não se encontram mais no serviço, não trocam mais informação, o que é fundamental como controle social. Elas até mantiveram isso nos grupos de zap, mas aí é muito mais caótico e rudimentar do que um encontro presencial. Tudo isso vai fazendo com que essa mulher vá perdendo a capacidade de alimentar esperança pros seus filhos. Alimentar, inclusive, no sentido de vislumbrar futuro.
Para concluir, vocês agora voltaram a essas famílias para uma nova pesquisa que pretende exatamente investigar como elas foram afetadas pela pandemia de covid-19. Como vem sendo realizada?
Depois do fim da pesquisa, em 2019, a gente seguiu em contato com essas mães. Elas continuaram nos contanto as suas histórias. Então, a gente decidiu que não podia deixar de acompanhá-las em relação a esse momento. Como não podíamos ir a campo, começamos uma série de contatos via WhatsApp, mas também acompanhando as lives que essas mulheres passaram a fazer para continuar colocando a cara no mundo, convidando profissionais para dar dicas de como cuidar das crianças em casa, trocando informações, construindo conhecimento em épocas de covid e também como uma forma de pressionar politicamente. Nossas pesquisadoras estão vendo com elas como têm sido realizados os encontros clínicos com profissionais de saúde, como fica a saúde dessas mães que seguem cozinhando, passando, cuidando das crianças e agora estão sobrecarregadas também com todos os filhos em casa. Eu, particularmente, estou revisitando dados, revisitando a ciência da zika — só em Recife, a gente apurou que aconteceram 99 pesquisas desde 2015 — a fim de lançar a pergunta para a ciência da covid. Tem muito a ser pensado sobre a covid a partir do que a zika nos ensinou.






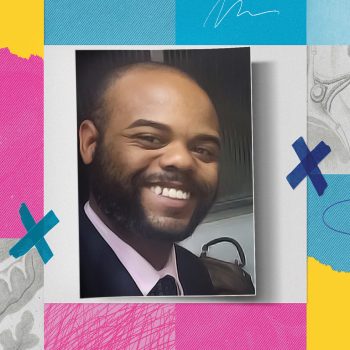


Sem comentários