Essa parte do rio é mais estreita? Perguntei, sem ter certeza se conseguiria escutar a resposta. O barulho do motor “de rabeta” cortava a minha própria voz, que se perdia ao vento.
— Não! Aqui é uma ilha! Respondeu o barqueiro sem tirar as mãos do leme e os olhos da imensidão à nossa frente, calmo como a corrente que pincelava a margem à minha esquerda.
Há quase três horas eu navegava pelo majestoso Rio Negro, e agora eu conseguia ver as duas margens ao mesmo tempo. Era a minha primeira vez na Amazônia. A resposta me ajudou a começar a entender a magnitude daquela experiência inédita, um misto de fascínio e medo, aventura e descoberta, sensações que somente um encontro real com a floresta podem proporcionar, oportunidade que poucas pessoas têm e que a Radis me presenteava naquele momento.
Era início de 2009, e eu ainda não sabia a importância que aquela reportagem teria na minha vida profissional e pessoal nos anos seguintes, mas seguia empolgado rumo à aldeia Vila Nova, às margens do Rio Xié, afluente do gigante por onde navegava, cujo espelho d’água refletia tão perfeitamente o desenho do céu que em muitos momentos me fazia confundir onde começava um e terminava outro. O céu aqui parece mais perto, imaginei.

“Educação, comunicação e saúde são conceitos complexos, incompletos, inclusos e complementares, intimamente ligados aos determinantes sociais e aos contextos pessoais — não são e não admitem práticas transferenciais, exigem e se concretizam somente quando partem da inclusão e da interlocução.”
Adriano De Lavor
A expectativa do encontro com agentes de saúde indígenas, o espetáculo visual e o ar puro que entrava pelas narinas compensava qualquer desconforto ou medo causados pela viagem naquela voadeira de alumínio que de modo barulhento singrava as águas de um dos rios mais potentes do Brasil. Quase cinco horas de navegação, havia avisado o barqueiro, ao partirmos de São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do país.
Mareado com o banzeiro, assustado com as nuvens que se formavam no céu quente da tarde de janeiro, eu observava a tranquilidade com que a agente de saúde Marilene tirava um cochilo no fundo da voadeira. Mais cedo, ela havia alertado: “Melhor vocês embalarem as mochilas nestes sacos grandes de lixo”, disse-nos ao embarcar. “No caso de virar, só elas vão flutuar”, orientou calmamente como se receitasse soro caseiro a uma mãe ribeirinha.
Eu ia anotando estas pistas do saber infinito e pouco visível que veria nos próximos dias, entre igapós e igarapés. Um encontro definitivo e definidor com a sabedoria do Brasil profundo, aquela que se encontra às margens dos grandes centros urbanos e nas margens dos grandes mapas, pontos pequenos na representação geográfica e enormes na tradução do que significa ser brasileiro, ser do Sul da América, ser humano. Algo que corre nas veias, mas não se vê.
Ali, na cabeça do cachorro, esquina em que o Brasil faz fronteira com a Venezuela e a Colômbia, eu não acompanhei somente a formação de um grupo de indígenas em profissionais de saúde — história que seria a capa da revista em abril daquele ano (Radis 80)) —, eu comecei o meu aprendizado sobre o que significa promover comunicação e saúde em um país tão diverso e desigual. Nada é como se imagina, tudo é mais complexo quando enxergamos os sujeitos que a academia e as políticas por vezes reduzem a objetos ou estatísticas.



O impacto foi tão profundo em mim quanto ainda são vívidas as imagens que guardei na memória. Tons infinitos de verde, cores inúmeras de penas e plumas a cruzar o céu azul, tons de terra a se misturar com as águas. Muitas águas. Não à toa chamada de floresta úmida, a Amazônia é essencialmente feita de água, que nem nós humanos — lembro de ter pensado ao me deparar com a primeira tempestade. Infinita pequenez humana diante da natureza.
Mas o impacto foi verdadeiramente potente quando comecei as entrevistas e conheci o que havia ali de humano, tão mais humano que eu. Muitas línguas e sotaques. Muitas sinergias e estranhamentos. Muitas descobertas e acolhimentos. Uma sabedoria sutil e potente, escondida nos recantos de praia de areia alvíssima e entre as folhas de palmeiras altíssimas, que me revelou verdades até então desconhecidas.
Aprendi ali que as distâncias são relativas quando calculadas pelo tempo que se leva para percorrê-las; que o tempo é significativo e não se mede somente pelos ponteiros, mas pelos ciclos de nascer, crescer, viver e morrer; que descobrir, aprender, lembrar e esquecer são processos que florescem e acontecem primordialmente por meio de encontros e desencontros; que educação, comunicação e saúde são conceitos complexos, incompletos, inclusos e complementares, intimamente ligados aos determinantes sociais e aos contextos pessoais — e que portanto não são e não admitem práticas transferenciais, exigem e se concretizam somente quando partem da inclusão e da interlocução. Só acontecem quando há conversa e permitem controvérsias.
De perto, aqueles sujeitos simples, moradores de um Brasil que eu desconhecia, superavam conceitos e desafiavam políticas e teorias. Pontos fora da curva e habitantes de tantas curvas e calhas de tantos rios, me ensinaram e me instigaram a cada depoimento, mostraram ignorâncias e limitações pessoais, fizeram-me questionar minha formação acadêmico-urbana-colonial, jogaram minhas certezas no chão.



Um episódio me marcou profundamente aqueles dias, quando a sombra da noite escura oferecia de presente um rastro luminoso, salpicado de estrelas. De onde eu estava na aldeia, eu enxergava um clarão que saía de uma das casas. À porta, vi de perto, um grupo concentrava o olhar para dentro, o que me fez supor ser um culto religioso. Ao me aproximar, vi que assistiam numa TV pequena a um filme americano sobre a Guerra do Vietnã, dublado em espanhol.
Minha mente se transportou, na rapidez de um satélite que provavelmente orbitava nossas cabeças, para o outro lado do globo. Um insight: a infinita diversidade humana permite pontos de interseção, interlocução e intercâmbio. Comunicação. Saúde. Naquele momento, invadiu-me imediatamente uma enorme vontade de estudar, de entender melhor tudo o que me rodeava e não compreendia, tudo que havia visto e que somente uma reportagem não daria conta de descrever.
Na viagem de volta à minha casa, escrevi um texto em que citava Galeano, no Livro dos Abraços, uma das inspirações para o que viria a seguir. “Sempre é possível encontrar contemporâneos em qualquer lugar do tempo e compatriotas em qualquer lugar do mundo. E sempre que isso acontece, e enquanto isso dura, a gente tem a sorte de sentir que é algo na infinita solidão do universo: alguma coisa a mais que uma ridícula partícula de pó, alguma coisa além de um momentinho fugaz”, dizia o autor uruguaio.
Nos anos seguintes, fiz outras reportagens sobre saúde indígena (Radis 84, 98, 199, entre outras), voltei à Amazônia muitas vezes (Radis 201 e 211) — inclusive para a formatura da turma dos agentes de saúde que conheci (Radis 153) — inspirei-me em movimentos e lideranças para estruturar minha pesquisa de doutorado, e entendi a importância daquela reportagem, potencialmente transformadora. Sem a Radis, nada disso teria sido possível.




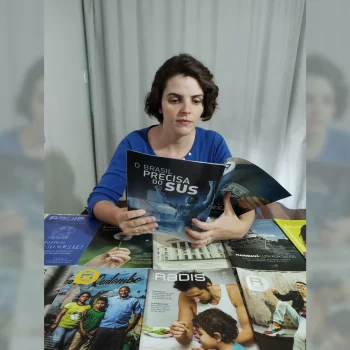

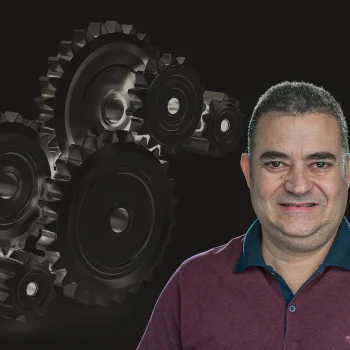





Sem comentários