A imagem de dona Maria Grinauria da Silva estava na capa da Radis 129, em 2013. Moradora do Coque, na área central do Recife, dona Grinauria viu sua casa ser derrubada para dar passagem à rua que cortaria a comunidade. Pela perda material foi indenizada. A perda afetiva deixou um buraco em sua alma. Morava na comunidade há 40 anos, e lá queria ficar. Seu destino foi a palafita, na beira do mangue. Dona Grinauria fazia 87 anos na tarde em que conversamos, numa passagem feita em tábuas de madeira que levava à sua casa. Não havia bolo ou festa. Não havia muito o que celebrar, ela disse. Mas havia leveza e acolhimento em sua voz. Do momento em que nossos olhares se cruzaram, lembro do sorriso e o resumo de uma história marcada por dificuldades. “Minha filha, isso não é vida”, foi o que disse. E foi isso o que eu ouvi em tantas conversas como repórter de Radis.
Sou pernambucana de coração, morei muito tempo no Recife e voltei à cidade muitas vezes depois do encontro com dona Grinauria. Aquela foi a primeira e única vez que entrei no Coque para ver de perto a “não vida” dela e de outros moradores. Para os recifenses, o Coque é tido como uma área de violência e alta criminalidade. Só isso. Mas, ao andar pelas ruas e vielas da comunidade, encontrei pessoas. Vi o fosso que separava, e continua a separar, a população do Coque do bairro vizinho de Boa Viagem. São apenas 3,5 quilômetros que asfaltam o caminho da desigualdade. No Coque, o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal, saneamento, urbanização e atenção à saúde precários, alto déficit habitacional. Boa Viagem tem IDH equivalente a um país europeu. Espremido por um viaduto e o mangue, criado a partir de um aterro sanitário, o Coque é o retrato cruel desse Brasil desigual presente nas páginas da Radis.

Sobre o Coque, avança a especulação imobiliária. Nesse modelo predatório, áreas populares viram objeto de cobiça à medida em que a cidade se espalha pelo território. A violência do lugar é até uma das estratégias para justificar a remoção de tantas famílias. No Recife, e não só nele, como constatei, o apetite voraz do capital financeiro expulsa essas pessoas do lugar de sua existência. Como um trator, derruba o que está à frente, passa por cima de barracos e casas, despreza pessoas, suas vivências e ligações com o território, suas histórias de vida e altera sem pudor a já frágil política ambiental urbana.
Simbolicamente, hoje é possível ver, do Coque, as primeiras de 13 torres que serão construídas no Cais José Estelita e que marcam a verticalização excludente da capital pernambucana. Em frente às torres, o rio Capibaribe. Na outra margem, está Brasília Teimosa. Seus moradores, fazendo jus ao nome, resistiam à pressão imobiliária naquele ano de 2013. Revi a comunidade, entrei em vielas e ouvi o quanto ainda tinham que lutar. Depois de Brasília Teimosa, outro destino bem perto, outro lugar estigmatizado. Assim atravessei pela primeira vez a ponte que liga o asfalto à Ilha de Deus. Ali, o empoderamento da comunidade foi o motor para a conquista do território e de mais atenção à saúde. Assim tinham conseguido preservar a área e, de longe, viam os espigões que transformaram de forma radical a paisagem recifense.



Em Salvador, nesta mesma matéria, vi que a ocupação desmedida do solo ameaçava pessoas e suas práticas. Na aridez da cidade verticalizada, as religiões de matriz africana lutavam para manter preservadas suas áreas verdes, os terreiros. Ao lado da capital, conheci, junto com o colega Felipe Plauska, Itapagipe e um de seus bairros, Alagados, que já foi a área com mais palafitas da América Latina. No processo de construção de novas moradias ou realocação de moradores, essa foi mais uma população que perdeu o vínculo comunitário, com fortes impactos na saúde individual e coletiva.
“Casa não se resume apenas a uma unidade”, disse Raimundo Nascimento, da Comissão de Moradores. Longe dali, para chegar na Ilha de Maré, fizemos uma travessia curta em um mar turbulento para ouvir relatos sobre o despejo de metais pesados pelas indústrias químicas e petrolíferas. Os peixes já não eram tantos, o mergulho em águas contaminadas fazia a pele queimar, o ar é poluído. Nesse modelo predatório de desenvolvimento urbano, a voz de quem se criou na terra não tinha conhecimento técnico, não era sequer ouvida, disse Eliete Paraguassu, mulher quilombola, marisqueira e líder comunitária.



No Rio de Janeiro, vi a desproteção pela ausência de políticas públicas e o impacto ambiental resultante da negligência e descaso. Secas e inundações matam sempre os mais pobres e desprotegidos, como mostrou a matéria da Radis 135. No Morro do Borel, que mais aparece no noticiário por questões relacionadas à criminalidade, Michele Sousa Santos morava em um barranco. Desocupado pela Defesa Civil, o barranco foi reocupado por quem não tinha para onde ir, como Michele. Seus vizinhos vieram da Bahia, e, apesar do risco, ficaram na cidade onde tinham trabalho. Quando chovia forte, Michele pedia que a enxurrada levasse a sua cozinha e livrasse o quarto. Ali ela dormia com o marido. Sem uma moradia digna, não há escolha senão ficar, ela contou.
A cada história, tragédias, vidas transformadas e experiências de muita resistência. Na Vila Autódromo, na Zona Oeste carioca, vi a luta e o fim, nada mais que isso. Altair Antunes tinha 58 anos, três remoções e a esperança de não somar mais uma, em 2013. Somou. Em questão de horas, a casa que foi sua por 22 anos foi soterrada pelas obras do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Altair, que presidia a associação de moradores, perdeu casa, saúde, acesso à saúde e vitalidade quando tornei a falar com ele, em 2016.
Neste mesmo ano, voltei à Vila Autódromo com o fotógrafo Eduardo Oliveira e nos defrontamos com o que restou da vila. Olhei o vazio, busquei casas que já não existiam, andei com tristeza pelo chão de terra batida, vi a igreja ainda em pé. De quase 700 famílias, vinte conseguiram permanecer. “Para ter moradia, a gente tem que lutar, brigar, apanhar”, confessou dona Penha, que lutou para ficar naquele lugar porque queria ser respeitada como “cidadã da cidade” (Radis 167).

Em todas essas viagens, em lugar de desenvolvimento, vi desumanidade em remoções. Vi despejo em massa e limpeza social em nome de projetos urbanísticos excludentes. Vi também atenção desigual, direitos negados, abandono, miséria, injustiça. Vi também a importância de políticas públicas continuadas e transversais para produzir saúde, especialmente no que toca ao acesso à água limpa e ao esgotamento sanitário adequado (Radis 188). Conheci projetos interessantes e bem-sucedidos, como o sistema de saneamento básico de Uberlândia, referência em todo o Brasil com a oferta pública de serviços.
Confesso que, na cobertura desses e de tantos outros temas, há muita emoção nesses encontros e não há como ficar isenta a eles. A energia brota a partir de cada escuta e é ali, no território, nas visitas às unidades de saúde, na conversa com agentes comunitários e endemias, na descoberta de programas de saúde, que eu acredito que o jornalismo se afirma como um agente de transformação social. Porque, como repórter da Radis em campo, a minha busca é a de resgatar as vivências do outro, descobrir os seus lugares, ver na ponta como o SUS abraça esses brasileiros tornados invisíveis e aprender com a diversidade, riqueza e potência das conferências de saúde.
Somos um elo nessa rede que trabalha e acredita na força do sistema público de saúde.
Assim consigo responder à pergunta “Onde ficam as pessoas?”, feita naquela edição que teve a imagem de dona Grinauria. Nessas quatro palavras, uma lição de casa. Nessas andanças, eu entendi que, enquanto a pessoa estiver em segundo plano, ela vai para onde der, como apontam as tantas matérias da Radis. E ali, de novo, e de novo, e de novo, vai procurar abrigo, reconstruir o seu teto, criar suas histórias, refazer relações a duras penas. Vai seguir sendo obrigada a forjar novas trajetórias em territórios nem sempre saudáveis, com um SUS nem tão pleno, onde saúde, educação e moradia ainda permanecem como sonhos que não se efetivaram como direitos de todo e qualquer cidadão.

“É ali, no território, que eu acredito que o jornalismo se afirma como um agente de transformação social.”
Liseane Morosini








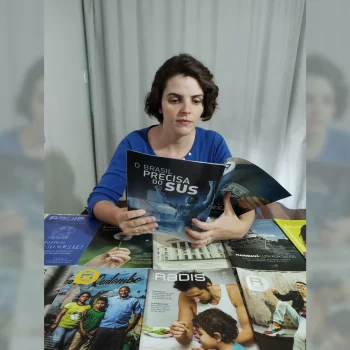


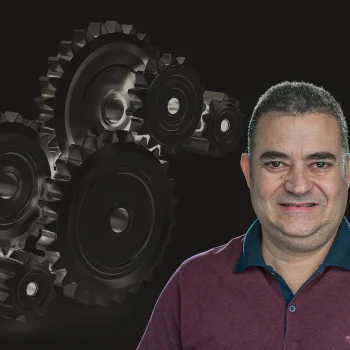
Sem comentários