Mulher preta e filha de mãe cabeleireira, Cássia Maciel é hoje Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia (UFBA), mesma instituição em que se formou em Psicologia depois de ingressar pelo sistema de cotas para pessoas negras. Militante do movimento negro e servidora da universidade, Cássia foi estudante cotista, fez mestrado e está à frente da Pró-Reitoria desde 2014. “Cresci ouvindo que a universidade pública não era para mim”, contou.
Quando a primeira geração de uma família ingressa na universidade, há um impacto positivo que vai da autoestima ao sentimento de representatividade, ressalta a pró-reitora. Para ela, as cotas trouxeram um processo de aprendizado para a universidade como um todo. Em conversa com a Radis, Cássia ainda destacou o papel fundamental das políticas afirmativas e de medidas que garantam a permanência dos estudantes, principalmente daqueles que entraram pelo sistema de cotas. “Ações afirmativas não são só reserva de vagas”, pontuou. Mesmo após 10 anos de sancionada a Lei 12.711 de 2012, ainda há muito por fazer. “Precisamos que as próximas gerações também tenham as suas vagas garantidas na universidade”.
Que balanço você faz da implementação das cotas nas universidades?
A minha avaliação é extremamente positiva. As ações afirmativas nas universidades são políticas fundamentais para o desenvolvimento social. São políticas que estão no cerne da consolidação de um regime democrático, porque ao atuar nas mais diversas instâncias, não só nas universidades, elas garantem uma diversidade de composição, de pensamento e de perspectivas sociais. Elas são extremamente positivas do ponto de vista do papel da universidade. Qual é esse papel? É produzir conhecimento referenciado. Se as nossas atividades fins são o ensino, a pesquisa e a extensão e as universidades também são equipamentos responsáveis pela oferta de serviços sociais diretos, como a saúde, todo esse conjunto de atividades passa a ser referenciado pela diversidade existente na sociedade. Do ponto de vista dos profissionais que saem formados para o mercado de trabalho ou para uma carreira acadêmica posterior, vamos ter esses postos de trabalho ocupados de maneira mais diversa. Mas como o racismo no Brasil é sistemático e também tem um elemento intersubjetivo, que é a discriminação mais direta, no cotidiano, as cotas são importantes também para as famílias. São famílias que têm os primeiros membros, depois de gerações, entrando na universidade, ou seja, ascendendo ao conhecimento acadêmico e à obtenção de um diploma para a inserção no mercado de trabalho. Para a noção de representatividade e de afetividade dessas famílias, quando há um estudante universitário que é o primeiro ou o segundo da família, isso modifica todo o âmbito social e coletivo daquele território.
Que impactos positivos podem ser percebidos nos espaços da universidade?
Hoje a UFBA tem nove modalidades de reserva de vagas. Há os perfis que são da Lei 12.711, ligados à origem de escola pública, renda, autodeclarados como pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. Criadas pela UFBA, nós temos ainda reserva de vagas para pessoas trans, refugiados, indígenas aldeados e quilombolas. É uma diversidade de composição que vai interferir de modo positivo diretamente no tipo de conhecimento e serviço que a universidade presta à sociedade. Por consequência, a formação profissional se volta para essas próprias populações, assim como qualifica outros espaços. É uma mudança social importante que nós estamos começando nesses 10 anos de cotas nas universidades. Estamos apenas começando, ainda estamos nas primeiras gerações. O impacto pode ser muito maior. Precisamos que as próximas gerações também tenham as suas vagas garantidas na universidade em função disso.
E para o futuro, o que é preciso aprimorar?
Ao meu ver, é um resultado positivo que deve ser consolidado e aprimorado, no sentido de que o poder público — e o governo federal especificamente, porque é o responsável pelo orçamento das universidades — crie condições de manutenção das ações afirmativas e de permanência da comunidade estudantil que ingressa por reserva de vagas, assim como uma melhor receptividade no mundo do trabalho, porque ações afirmativas não são só reserva de vagas. Existe uma política de acesso que é a reserva, mas também existe a questão da permanência, em que a principal estratégia é a assistência estudantil, seja restaurante, creche, transporte, auxílio-moradia, auxílio-saúde. E ainda é preciso pensar em políticas de pós-permanência para o mundo do trabalho, que absorva o profissional saindo hoje de uma universidade — porque a consolidação das ações afirmativas é para todos os estudantes, não só para quem entrou pelas cotas. Isso vai gerar um processo de aprendizagem da universidade como um todo. Então precisamos continuar nesse caminho e fortalecer cada vez mais as ações afirmativas.
Como os cortes orçamentários na ciência e o contexto de boicote às universidades impactaram as ações afirmativas?
Nós vivemos no momento atual uma tentativa aberta de determinados setores da sociedade — eu diria que com aval ou estímulo do governo federal — para desqualificar, desacreditar e diminuir o papel da ciência, das artes, da cultura na vida política, buscando deslegitimar essa participação. A universidade é como o epicentro dessas áreas de conhecimento — sabemos que não se produz conhecimento apenas na universidade, mas o conhecimento está no cerne da nossa organização social. O nosso povo, o povo brasileiro, é muito trabalhador e tem muito amor ao conhecimento. Mas somos também uma sociedade de racismo e violências sistêmicas, que buscam afastar negros, indígenas, quilombolas e mulheres do espaço da universidade, desse espaço onde vai se produzir determinado tipo de conhecimento. Então, eu vejo que esses ataques são uma forma de desmobilizar os melhores interesses: o nosso povo quer trabalhar e estudar. Atacar a universidade é uma tentativa de tirar desse cenário um agente importante: uma família que foi estruturada historicamente com dificuldades de acesso à educação e à saúde precisa ter seu espaço garantido na universidade. Não somente com vistas a melhorar a vida desta família, mas para qualificar o conhecimento que é produzido na universidade e entregue à sociedade.
Como os ataques às universidades públicas reforçam esse histórico de exclusão de determinadas parcelas da população, como negros e pobres?
As decisões em cortar o orçamento das universidades e diminuir os investimentos em pesquisa, em criticar de modo aberto e negacionista todas as contribuições das universidades durante a pandemia de covid-19, são tomadas não por ingenuidade ou simples incompetência, mas são decisões estratégicas de enfraquecer a confiança do povo brasileiro na ciência. Manter a ideia da ciência, da universidade, da arte, da cultura como algo distante e para poucos: “Olha, esse negócio de universidade não é para você”. É isso que as ações afirmativas vieram combater. Eu entrei na universidade pública como estudante aos 30 anos. Eu já era funcionária da universidade, não sou docente, sou técnica-administrativa. Cresci ouvindo que a universidade pública não era para mim, porque eu precisava trabalhar, porque era muito distante, porque tinha horários diferentes ou os conteúdos eram muito difíceis. Esse é um conjunto de falácias postas estrategicamente para que as pessoas se afastem desse espaço. A gente sabe que, antes das políticas de ações afirmativas, as universidades tinham um perfil majoritariamente branco de classe média alta. Na narrativa histórica, indígenas, quilombolas, população negra, mulheres, pessoas com deficiência sempre ouviram: “esse espaço não é para você”. E tudo isso foi atravessado por violências históricas como o racismo e o sexismo no Brasil. O racismo diz: “Índio é na mata, é com cocar, você não precisa vir para cá. Esse negócio de querer ter diploma, pra quê?”. Ao negar o acesso a esse conhecimento sistematizado e qualificado, o indivíduo permanece disponível como massa de trabalho que pode ser alocada de modo exploratório, sem dignidade, a depender daquilo que o mercado precisa.
Você poderia nos contar um pouco mais sobre a sua história?
Eu entrei na UFBA como auxiliar de enfermagem na maternidade. Na época, em 2004, já havia a efervescência do debate sobre a reserva de vagas: a gente aprovou em 2004 e implementamos em 2005, antes de ser lei. Sou filha de uma família trabalhadora: minha mãe era cabeleireira e criou a gente sozinha. Eu não comecei no ensino superior na universidade pública e sim em uma faculdade particular. Trabalhei para pagar e depois não tinha mais condições de continuar. Quando entrei na UFBA como servidora, peguei exatamente a discussão sobre a reserva de vagas. Foi aí que fiquei sabendo que podia estudar na universidade. Eu já era funcionária e estava grávida de gêmeos. Fiz o vestibular e passei para Psicologia pela reserva de vagas para pessoas negras. Entrei em 2008, no mesmo ano em que meus filhos nasceram, e fiz a graduação em cinco anos. Mas eu já tinha uma vida política ativa na universidade. Era dirigente do sindicato e representante dos técnicos. Em 2014, houve a consulta e a nomeação do professor João Carlos Salles para reitor e ele me convidou para ser Pró-Reitora de Ações Afirmativas. Entrei em 2014 na Pró-Reitoria e, concomitantemente ao cargo, fiz uma especialização lato sensu e depois segui para o mestrado. Defendi minha dissertação em fevereiro [de 2022]. Faço uma pesquisa sobre a Psicologia e as relações raciais, estudando o impacto do racismo na subjetividade. Depois de oito anos de Pró-Reitoria (estamos vivendo um processo de consulta para reitor), estou finalizando essa parte de gestão na universidade.
As relações na universidade ainda são atravessadas pelo racismo estrutural?
Essa pergunta é muito importante porque a UFBA tem uma característica: nós somos uma comunidade de mais de 50 mil pessoas. Hoje temos 38 mil estudantes de graduação, quase 8 mil de pós stricto sensu, pouco mais de 3 mil professores e quase 3 mil técnicos-administrativos. Então somos uma estrutura que está imersa completamente na região, não só em Salvador, mas no estado e na própria região Nordeste. Somos atravessados pelas questões da sociedade: pelo autoritarismo, pela discriminação e pelo racismo. Então, sim. No lugar de estudante, foi muito significativo para mim que eu fosse uma das poucas estudantes negras do curso de Psicologia. A universidade ainda tem o grande desafio de vencer e combater práticas racistas, sexistas e capacitistas — não só do ponto de vista punitivo, mas principalmente na nossa forma de produzir conhecimento com currículos, ementas, atividades de extensão e programas de pesquisa. Todo esse escopo precisa ser atravessado pela perspectiva das ações afirmativas para que a gente esteja com um programa de universidade antiautoritarismo, o que significa combater essas violências no cerne daquilo que a gente faz, mas ao mesmo tempo cuidar dessa relação do dia a dia, na sala de aula, nos corredores, nas filas.
Você mesma já vivenciou situações de racismo na universidade?
Essas manifestações ainda acontecem. Pessoas já abriram a porta da minha sala e perguntaram: “Cadê a pró-reitora?” Eu já estive em atividades em que chamei alguns setores da universidade para uma reunião e as pessoas passavam por mim e me perguntavam: “Quem é Cássia? Quem é a pró-reitora?” Existe algo arraigado com a questão de gênero e racial, porque há uma informação exposta minha, que é o meu corpo. Por que as pessoas acham que esse corpo não pode ocupar esse lugar? Certa vez, eu estive em um dos ministérios para acompanhar lideranças indígenas em uma atividade e a pessoa que me recebeu apertou a minha mão e disse assim: “Vamos esperar a pró-reitora chegar para fazer a reunião”. Diante de mim, ela não concebia que eu estaria neste lugar. A liderança que estava comigo chegou e disse: “Ela é a pró-reitora” e aí a pessoa rapidamente disse: “Ó, tão jovem!”, ou seja, ela preferiu me discriminar pela idade do que me discriminar pela cor. Então, sim, essas coisas acontecem nos mais diversos ambientes ainda.
E como você assume a luta contra o racismo em seu trabalho?
Existem muitas formas de lutar contra o racismo. Tem pessoas que vão lutar contra o racismo fazendo pesquisas, outras vão se somar a movimentos sociais, ganhar as ruas, pegar o microfone, escrever um texto, enfim, lançar mão de estratégias afetivas, porque o racismo cria um estigma nas pessoas que é exatamente fazer parecer que a pessoa negra é infra humanizada, não tem a capacidade de amar, de se relacionar. Eu tenho um cargo de responsabilidade em uma comunidade que confia nessa gestão para fazer cumprir aquilo que é importante na universidade, e um cargo não pode ser gerido apenas a partir das minhas posturas e decisões, mas eu particularmente me engajo muito em atividades pedagógicas, políticas, cursos de formação e palestras. É a minha forma de dar visibilidade à luta contra o racismo.
Qual o papel das ações voltadas para a permanência estudantil, especialmente para aqueles oriundos da reserva de vagas?
A questão da permanência é fundamental. Um conjunto de ações deve estar voltado para a permanência material, como bolsas, auxílios, transporte, restaurante e creche. Há a permanência pedagógica, que tem a ver mais com a relação de ensino, a oferta de oportunidades para desenvolver competências em leitura, escrita e cálculo, por exemplo. E também existe aquilo que chamamos de permanência simbólica, que é a dimensão do combate às violências e do próprio amparo teórico e metodológico da universidade para isso. Eu já presidi o Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis e vejo que as universidades estão em níveis diferenciados em relação a esse entendimento de que as ações afirmativas são transversais ao ensino, à pesquisa e à extensão. Não é só reserva da vaga. No nosso caso, a gente investe nessas três frentes, ainda de modo incipiente. Precisamos de mais. Se você pensar do ponto de vista material, a UFBA tem restaurantes, residências, transporte, intercâmbio, creche, auxílio-óculos, auxílio-saúde, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, material didático para o curso de Odontologia, mas esse conjunto de ações ainda é insuficiente. O nosso orçamento ainda é insuficiente, porque o Nordeste tem a menor renda per capita entre estudantes universitários. Na nossa universidade hoje, mais de 70% dos estudantes informam que têm renda abaixo de um salário mínimo e meio. Uma parte das ações só é possível fazer com orçamento: que é a bolsa, o transporte, o restaurante. Mas a outra parte é vontade política e estímulo: atualizar os currículos e oferecer componentes curriculares que revertam essa questão da discriminação, além de programas de acolhimento e bem-estar psíquico. A gente tem um programa de bem-estar formado por psicólogos voluntários que fazem o acolhimento da comunidade, além do serviço médico universitário e de uma rede de atenção e apoio psicossocial.
E como tem sido o engajamento da comunidade acadêmica com essas questões?
Da parte dos estudantes, eu vejo muita luta individual apoiada pelas famílias. Famílias que se esforçam: um tio, uma tia, um parente, um padrinho que manda dinheiro, porque para alguns estudantes é suficiente o apoio da assistência estudantil, mas para outros, não. Também vejo muito engajamento das famílias, aquela sensação de que “a nossa geração precisou trabalhar, eu não pude estudar, mas você é estudante da UFBA, você vai estudar e a gente vai garantir isso pra você”. Nisso, eu vejo um empenho muito grande dos estudantes. É como se eles dissessem: “Já que houve uma luta protagonizada pelo movimento social antes de mim, há uma reserva de vaga que é meu direito, não é nenhuma benesse, eu não sou menor que ninguém por causa disso, eu vou me dedicar o máximo que eu puder.” Geralmente eles concluem o curso no tempo médio, no tempo mínimo, exatamente pela expectativa de fazer jus ao seu direito, mas também para ter logo um retorno para dar às suas famílias: “olha, já estou formada, agora vou correr atrás de trabalho”. Vejo também o engajamento dos estudantes na luta política: nas associações, coletivos e representação estudantil, lutando com muita força para defender a assistência estudantil. E também um processo muito grande de solidariedade entre eles: de dividir casa ou material, de estudar junto, de tentar sempre estratégias em grupos. Apesar da universidade oferecer um conjunto de políticas para permanência, a comunidade estudantil também se mobiliza muito, luta para permanecer neste espaço e desenvolve estratégias de solidariedade, com ajuda de professores e técnicos, para fazer valer o direito de permanecer na universidade.
Como a UFBA foi uma das pioneiras na implantação do sistema de cotas, você percebe uma mudança atualmente em relação ao perfil docente, com mais professores negros, indígenas ou de outros grupos abrangidos pelas cotas?
O perfil dos docentes ainda não mudou a contento. Hoje a UFBA tem uma média de 18 a 20% de professores que se autodeclaram como negros e negras. Até a lei 12.990 de 2014 [que instituiu a reserva de vagas nos concursos públicos federais], muitas universidades interpretavam da seguinte forma: “só se pode aplicar o percentual de reserva de vagas quando tiver mais de três vagas”, mas os concursos eram departamentais, então nunca era aplicado. Em 2018, a UFBA tomou a decisão no Conselho Universitário de mudar a forma de fazer o concurso docente: somar todas as vagas e aplicar o percentual de 20% sobre essas vagas. Com isso, já no primeiro concurso, entraram mais de 10 professores negros e negras. De lá para cá, todos os nossos concursos são realizados dessa forma. O número de professores com deficiência ainda é pequeno; em relação a pessoas trans, ainda não tivemos conhecimento; e tivemos recentemente o primeiro professor indígena, Felipe Tuxá, na Antropologia, o que é muito significativo. Lembra que a gente abriu a conversa falando que, em 10 anos, ainda falta muita coisa, porque para ser professor universitário, você precisa completar esse ciclo: a graduação e a titulação necessária para ocupar o cargo docente? Essa geração está sendo preparada para ocupar esse espaço e por isso a gente precisa de mais vagas docentes nas universidades e de mais consolidação das ações afirmativas.
Que desafios estão colocados para a manutenção das ações afirmativas?
Eu tenho sempre uma perspectiva positiva nesse aspecto: eu não descarto os desafios, não descarto que o racismo ainda se encontra na trajetória dessas carreiras. A discriminação não é imposta exclusivamente pela universidade, mas muitas vezes é reproduzida nela. Mas eu creio que essa realidade possa mudar com a tomada de medidas para combater isso, com a mobilização política das pessoas, corrigindo, apontando, lutando por igualdade e com escolhas também importantes em relação à gestão da universidade, do próprio poder público, das eleições gerais, entendendo que a universidade é um órgão, uma autarquia do governo federal. A decisão sobre a Presidência da República é fundamental para as universidades, ou seja, estar atento a projetos e programas que deem papel de destaque na sua agenda e não coloque a universidade como um ente a ser destruído, a ser minimizado. Precisa ser construído um caminho progressista, igualitário, democrático, de escuta, de trocas horizontais. A universidade não combina com autoritarismo. Então é muito importante que a nossa comunicação sobre o papel das ciências, das artes, da cultura e da tecnologia, circule mais, chegue às pessoas numa linguagem que elas entendam. Acho que a gente precisa estar mais atento a essa questão e escolher caminhos mais progressistas que entendam que a educação é um direito e não um privilégio.
Heteroidentificação
Na implementação das ações afirmativas, a criação de Comissões de Heteroidentificação — que têm a função de confirmar a identificação étnico-racial de uma pessoa autodeclarada — tem sido um passo importante para evitar fraudes no sistema de cotas. “A heteroidentificação como complemento da autodeclaração é uma etapa fundamental da fiscalização da reserva de vagas para a população negra. Nós não vamos garantir que a população negra, de fato, esteja ocupando o seu espaço de direito se não houver fiscalização”, explica Cássia Maciel. Segundo a pró-reitora, a Comissão da UFBA foi implementada em 2019 e hoje a heteroidentificação é utilizada em todo o acesso à universidade: graduação, pós-graduação, concursos públicos e outros processos seletivos.
Cássia pontua que a universidade busca capacitar os membros das bancas de heteroidentificação, alertando sobre a questão do racismo científico, prática baseada em uma “avaliação biológica ou biomédica completamente afastada e que não condiz de forma alguma com o momento atual da história brasileira”. Ela também conta que são convidadas pessoas da comunidade, integrantes de movimentos sociais e de órgãos como o Ministério Público para participar do processo. A adoção da metodologia desenvolvida pela professora e socióloga do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Marcilene Garcia, denominada Ojuoxê (Olhos da Justiça), ajuda a não transformar o processo em um “tribunal” que vai julgar se uma pessoa é negra ou não: a banca promove uma conversa com cada um dos candidatos, em que eles são ouvidos e não “julgados”. Segundo Cássia, todo esse processo tem sido um aprendizado para a comunidade universitária.




















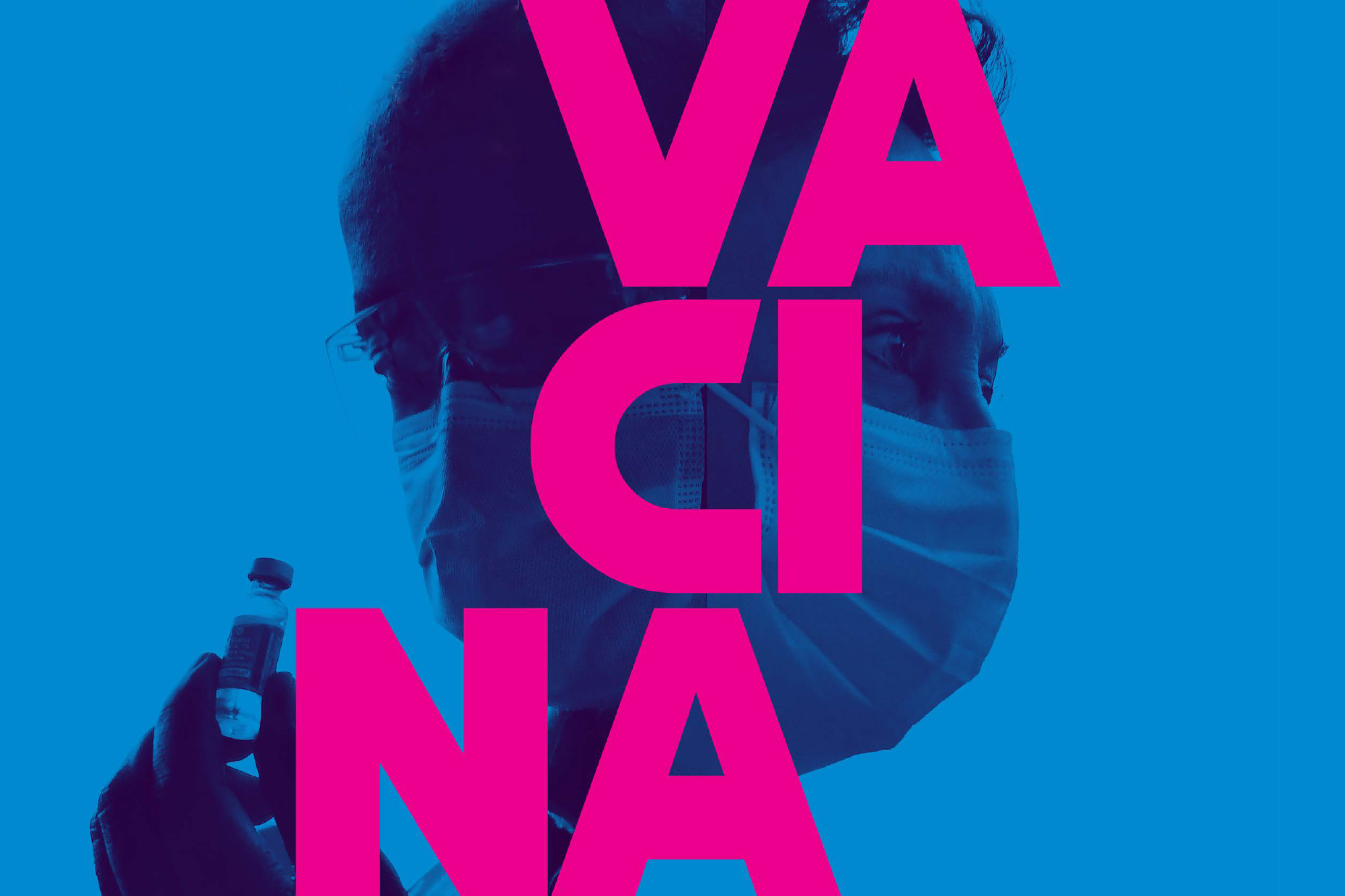


Sem comentários