Sem muito alarde, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, em abril, uma lei que modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelece que todos os bebês de até 18 meses de vida sejam submetidos, nas consultas pediátricas, a protocolo ou outro instrumento para detecção de risco psíquico. Longe de ser consenso, a nova medida legal vem provocando um debate no movimento contra a medicalização da saúde. Em reportagem da edição de julho, Radis discutiu os reflexos na vida de pais e cuidadores de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Leitora da revista, a psicóloga da rede de saúde mental do SUS, Mariana Ferreira escreveu à Redação. Ela alertava para aspectos que ainda geram controvérsia. Era preciso voltar ao assunto. Nesta entrevista, que aconteceu na sede da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, no Centro do Rio de Janeiro, onde Mariana atua como apoiadora, ela explica por que é preciso enxergar o autismo para além de uma visão biologizante.
Como definir o autismo?
Acho importante pensar historicamente. Quando eu era criança, minha avó tinha um vizinho que diziam ser autista. Ele nunca saía de casa, a gente não conseguia vê-lo, tinha realmente a questão do isolamento. Mas o que acontece? Hoje uma das definições para o autismo é que se trata de um espectro que pode ir de um grau mais leve até um mais grave — aquilo que antigamente a gente considerava autismo. Isso acontece com outras patologias que também foram redesenhadas nas novas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) e da Classificação Internacional de Doenças (CID), que só faz aumentar o número de categorias e de pessoas enquadradas justamente por isso, porque é um “espectro”
Por que você faz essa ressalva?
Porque tem muitos interesses em jogo. Não à toa, aumentou consideravelmente o número de pessoas diagnosticadas com autismo: uma em cada 110 crianças no mundo. Nos Estados Unidos, onde a medicalização é muito forte, a estatística é de uma criança a cada 68. Então, tem muita coisa que ainda não está comprovada na literatura científica e que precisamos tomar cuidado ao falar. Porque, quando a gente pensa apenas a partir de categorias diagnósticas, deixa de enxergar muitas questões singulares. Antes, o autismo era muito mais um transtorno afetivo do relacionamento, marcado pela dificuldade de contato com o outro, e foi cada vez mais se tornando uma questão cognitiva ligada ao cérebro ou a uma visão mais biológica, como se fosse uma questão genética. A gente vai deixando de olhar para subjetividades, para questões sociais e políticas, e passa a ver esse cérebro desincorporado, ligado só à química.
Você falou sobre a Lei 13.438, já sancionada, que prevê a identificação precoce de riscos psíquicos em bebês. Que consequências pode trazer?
Essa é uma questão muito delicada que vem gerando discussão nos movimentos pela despatologização e contra a medicalização. Claro que há correntes mais biológicas que são favoráveis, mas eu me coloco ao lado daqueles que criticam essa medida que pode acabar provocando um efeito iatrogênico [quando uma ação causa resultados adversos ou prejudiciais]. Como você pode determinar de repente um destino de uma criança com 18 meses? Uma coisa é o que a gente preconiza no SUS de buscar uma promoção da saúde, olhando para o território e o ambiente social que vão ser importantes para a saúde da criança. Isso não é o mesmo que ver no bebê algum risco de ele desenvolver uma doença mental. Essa ideia é perigosa. Claro que o problema não é só a Lei, mas podemos aproveitar para promover o debate. No país de Nise da Silveira [psiquiatra brasileira que fundou o Museu de Imagens do Inconsciente], tem muita gente pensando por uma lógica despatologizante. Dentro do SUS, temos os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e os Centros e Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (Capsi), com equipes de muita sensibilidade. É importante também contar com a visão de pessoas que nem são da área médica. Em um curso de formação, conheci uma professora que observou que um aluno costumava repetir uma música, mas em vez de ver isso como um sintoma, prestou atenção e reparou que aquela era uma canção da igreja que a mãe do garoto cantava sempre. A partir disso, ela fez um vínculo com ele e passou a desenvolver um trabalho incrível.
Quais os maiores estigmas que pesam sobre o autismo?
Ainda estamos presos à ideia da falta. Fala-se muito do que falta mas nunca sobre tudo o que essas pessoas têm a oferecer. Fala-se que não conseguem se comunicar e não se percebe que elas se comunicam de outra forma. Na reportagem de Radis [edição 178], inclusive, as mães falam que enxergam uma hipersensibilidade nos filhos diagnosticados com autismo. E, muitas vezes, o estigma é justamente o contrário: de que o autista não é sensível, não faz contato. Sugiro assistirem ao vídeo “Um passo de lado” (Un pas de côté), de Michel Charron e Anamaria Fernandes, sobre um trabalho de dança em um hospital com pessoas com grau elevado de autismo. Eles realmente não conseguiam falar com ninguém. Mas a dança também é uma forma de comunicação profunda. Só não é verbal. O autista não faz contato visual, olho no olho, mas com a dança, também está se comunicando, dando um passo ao lado do outro.






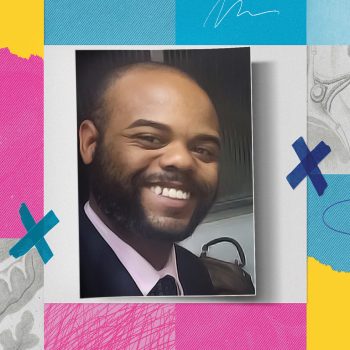


Sem comentários