Dias depois de classificar a monkeypox como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (23/7), o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que gays, bissexuais e trabalhadores do sexo reduzam, neste momento, o número de parceiros sexuais para diminuir a exposição à doença. A declaração de Tedros Adhanom despertou surpresa pela possibilidade de trazer de volta o estigma do início da epidemia de HIV/aids em relação aos homossexuais. Ainda que a OMS aponte que, neste momento do surto, 98% dos casos se concentrem em homens que fazem sexos com homens (HSH), restringir a importância da prevenção a apenas um grupo pode, além de gerar preconceitos, reforçar a falsa ideia de que o restante da população não precisa se preocupar.
Ledo engano. A doença conhecida inicialmente como varíola dos macacos — causada por um vírus do gênero orthopoxvirus, parente do causador da varíola humana, erradicada no mundo, em 1977, graças à vacinação — e que tem sido chamada pelo nome em inglês monkeypox é transmitida por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. Portanto, não está relacionada apenas ao sexo (embora, logicamente, o sexo envolva um grau elevado de exposição ao contato físico, o que não exclui as demais formas de transmissão).
“Temos um número de casos concentrados na população de homens que fazem sexo com homens, mas todas as pessoas estão vulneráveis. Todas as pessoas podem contrair através de um contato próximo, não é uma transmissão exclusivamente sexual”, explica Pedro Campana, médico infectologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), especialista em saúde LGBTQIA+ e no atendimento a pessoas que vivem com HIV/aids. O melhor tipo de comunicação para a redução de riscos, ressalta o médico, é aquela que se baseia na ciência — e é importante não limitar o assunto à transmissão sexual, mas informar a população de forma objetiva sobre as formas conhecidas de disseminação do vírus.
Quem viveu de perto o início da epidemia de HIV no Brasil e no mundo, ainda nos anos 1980, tem viva na memória a forma como a aids era tratada como “doença ou câncer gay”, como chegou a ser chamada até mesmo pela imprensa. Diante das recentes declarações sobre a monkeypox, a comunidade LGBTQIA+ já começou a se mobilizar [leia texto clicando aqui] para evitar uma nova tentativa de criminalização da sexualidade, das orientações sexuais e identidades de gênero — e cobrar políticas de prevenção e vacinação. “O que a gente está tentando fazer é não ficar a reboque como foi feito com a questão da aids, que jogaram para a gente toda a responsabilidade em relação ao HIV”, afirma o filósofo e ativista Cláudio Nascimento, presidente do grupo Arco Íris e diretor da Aliança Nacional LGBTI+.
O próprio diretor da OMS, em seu discurso, enfatizou que “estigma e discriminação podem ser tão perigosos quanto qualquer vírus e podem alimentar o surto”. Contudo, em contextos de disseminação de discursos de ódio e desinformação, qualquer declaração que dê margem para acusar os homossexuais de “promíscuos” e “propagadores de doenças” torna-se uma oportunidade para reviver uma história já bem conhecida de preconceito e discriminação. Por isso, Pedro ressalta que é preciso trazer o aprendizado que a área da saúde teve com o HIV para o cenário da monkeypox. “A gente aprendeu que orientação sexual não define e não é fator de risco para o adoecimento, e sim exposições sexuais de risco, independentemente da orientação sexual das pessoas”, pontua o médico infectologista.
O que já se sabe
O vírus causador da monkeypox foi descoberto em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958 — daí o nome de “varíola dos macacos”, embora a ciência saiba que os primatas não são os animais mais suscetíveis à doença [Saiba mais aqui]. O primeiro caso em humanos foi registrado em 1970 e, até então, a preocupação e os investimentos em pesquisa eram limitados, porque a doença estava restrita à África Central e Ocidental. O que acendeu o alerta de preocupação no mundo foi a disseminação de um surto na Europa, a partir do primeiro caso registrado no Reino Unido, em maio. Classificada como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS desde 23 de julho, a monkeypox alcançou 41,5 mil casos no mundo em 96 países, até 21 de agosto; no Brasil, que se tornou o terceiro país com mais casos, já são 3.788 ocorrências e uma morte.
“Não existe tratamento específico disponível até agora. O tratamento é sintomático, focado em aliviar as dores. Se o paciente apresentar dor muito intensa, dependendo do local da lesão, é indicado para internação”, explica a médica infectologista Mayumi Wakimoto, chefe do Serviço de Vigilância em Saúde do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) da Fiocruz. Ela pontua que a monkeypox é uma doença com letalidade baixa e autolimitada (com duração definida), mas pode ser mais grave em pessoas imunossuprimidas, gestantes e crianças.
Os sintomas iniciais geralmente são febre, dores musculares, dor de cabeça intensa, dor nas costas, fraqueza e gânglios inchados. Segundo a OMS, a erupção ou lesões na pele (exantema) surgem dentro de um a três dias após o início da febre. “O quadro clínico clássico tem uma fase de sintomas gerais (febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, gânglios), que dura até três dias, e depois começam a aparecer múltiplas lesões cutâneas”, descreve Mayumi. Contudo, ela identifica que o surto atual tem algumas características diferentes do que já era conhecido como padrão. “O que estamos vendo agora nesse surto é que os pacientes podem aparecer com uma lesão única ou algumas lesões (normalmente genitais, perianais e orais). Essas lesões podem ser precedidas ou não por febre e mal-estar”, completa.
Essa variação na apresentação é uma lacuna que ainda está sendo investigada pelos cientistas, assim como o que causou o surto para além dos países endêmicos. “Podemos pensar na diminuição da imunidade, porque se parou de vacinar [contra a varíola humana]. Quando a gente olha a mediana de idade do surto atual, está entre 33 e 38 anos, uma população que não se vacinou contra a varíola humana. Mas não se sabe quanto tempo dura a proteção de quem se vacinou”, pondera.
Em relação a tratamentos disponíveis, a infectologista ressalta que a doença tem basicamente tratamento dos sintomas — e o único antiviral que deve chegar ao Brasil, o tecovirimat, estará disponível em pequena quantidade e com uso muito criterioso, para casos com mais probabilidade de desenvolver doença grave, como pessoas imunossuprimidas. Quanto à vacinação, também deve ser restrita inicialmente. “Não há ampla disponibilidade de vacinas e não há indicação de vacinação em massa. Os países que já dispõem de vacinas, como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, estão adotando estratégias de vacinação nas populações que consideram de maior risco”, afirma Mayumi.
As vacinas disponíveis contra a varíola humana podem também ser utilizadas para a prevenção da monkeypox. Atualmente, são produzidos três imunizantes no mundo. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 50 mil doses, que, com o esquema vacinal em duas etapas, deve ser suficiente para imunizar apenas 25 mil pessoas. As vacinas serão recebidas em três remessas a partir de setembro e, segundo o ministro Marcelo Queiroga (22/8), devem priorizar profissionais de saúde.
Vacina e informação
Garantia de vacina e de informação adequada sobre prevenção e cuidados são duas das principais medidas para bloquear o surto da monkeypox, na visão dos infectologistas ouvidos por Radis e segundo Cláudio Nascimento, para quem o aprendizado com o HIV/aids mostra que a construção coletiva, com participação da sociedade, é o caminho para evitar estigmas. “A própria ciência e a área de saúde no Brasil e no mundo acumularam muitas experiências e tecnologias ao longo do tempo, a partir de construções da própria sociedade”, constata.
A orientação para reduzir parceiros sexuais, segundo o presidente do Grupo Arco Íris, é uma estratégia que já se mostrou ineficaz com a epidemia de aids. “Não podemos deixar que velhas tentativas de tentar criminalizar a sexualidade sejam de novo tiradas do arquivo morto e divulgadas como métodos de prevenção atual”, afirma. Outro equívoco é trabalhar a pessoa com a varíola como “vetor do vírus”, o que, segundo o ativista, ressurge com a noção já superada de “portador”. “Todas são categorias e conceitos que a gente já desconstruiu e superou ao longo de 40 anos de luta contra a aids e não podemos de novo repetir”.
A luta pela garantia de vacinas, principalmente para os grupos mais afetados, deve ser uma pauta para a comunidade LGBTQIA+ e para a sociedade como um todo, na visão do médico infectologista Pedro Campana. “O que a gente viu em relação à pandemia de covid-19 no Brasil foi um grande atraso em relação à aquisição de vacinas, muito por negacionismo do governo federal em relação à eficácia”, pontua. No entanto, Pedro acredita que o país conta com “serviços de saúde muito bem estruturados que possam eventualmente conseguir essas vacinações prioritárias”.
Ele cita o exemplo do surto de hepatite A, em 2017, que se disseminou entre a população de HSH — e a prefeitura de São Paulo colocou esse imunizante no calendário vacinal para essa população. “Pela gestão descentralizada do SUS, talvez a gente consiga implementar em nível estadual ou municipal a vacinação para os grupos prioritários, que são os mais atingidos”, avalia. Segundo o infectologista, esse é um tema “ainda muito delicado que tem que ser resolvido com brevidade e informações técnicas” — e que desafia governos reacionários que não se baseiam em dados científicos. “Se a gente trouxer uma política séria de saúde pública, baseada em dados epidemiológicos, a população que tem que ser priorizada é a população de HSH, que está sendo mais acometida”, conclui.
Para Mayumi, é preciso desfazer estigmas que podem levar à falsa informação de que o restante da população não está suscetível a contrair a doença. “É importante haver informação qualificada e comunicação adequada para que as pessoas possam adotar medidas para se proteger. É importante frisar que há possibilidade de transmissão por contato domiciliar, por exemplo”, ressalta.
Em caso de sintoma ou de contato próximo com alguém infectado pela monkeypox, a recomendação é procurar um serviço de saúde para aconselhamento e avaliação. Em caso de teste positivo, a pessoa deve se manter isolada por 21 dias. A médica infectologista do INI lembra que, na ausência de vacina, a melhor forma de prevenção é evitar o contato próximo com paciente suspeito ou confirmado. “Significa que a pessoa doente tem que ficar em isolamento domiciliar: quarto separado, banheiro separado se possível, porque existe a possibilidade de transmissão por compartilhamento de objetos, como toalhas, lençóis, talheres. Se tiver que entrar em contato, recomenda-se fortemente o uso de máscara e luvas”, explica. A transmissão viral acontece pelo contato com as lesões na pele, mas Mayumi explica que outras formas de transmissão ainda estão sendo estudadas.
A experiência com outras doenças mostra, segundo Cláudio Nascimento, que “a informação científica abordada de maneira focalizada pode ter um resultado importantíssimo para frear o crescimento da monkeypox no mundo”. “Precisa haver informação correta, combate ao estigma, prevenção com vacina e tratamento adequado, cuidadoso e solidário”, sublinha o presidente do grupo Arco Íris. Segundo ele, a comunidade LGBTQIA+ deve ser vista como uma aliada no enfrentamento do atual surto da doença, por meio da garantia de políticas de apoio e prevenção. “O que não pode é a sociedade pensar que é uma doença biologicamente propensa ao corpo gay e ao corpo trans. É de qualquer corpo que pode tocar”, constata.
Informe-se para evitar estigmas

Quais são os sintomas?
Febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, fraqueza, gânglios inchados e erupções na pele são geralmente os sintomas. As lesões na pele costumam aparecer dentro de um a três dias após o início da febre; tendem a se concentrar no rosto, palmas das mãos e plantas dos pés, mas podem também ser encontradas na boca, genitais e olhos. Os sintomas duram entre duas e quatro semanas e desaparecem sem tratamento. O tratamento geralmente é para aliviar a dor e o incômodo.
Como ocorre a transmissão?
Pessoas com monkeypox podem transmitir a doença enquanto estiverem com sintomas por contato próximo. A erupção na pele (exantema) e os fluidos corporais são particularmente infecciosos. Roupas, roupas de cama, toalhas e objetos contaminados com o vírus também podem infectar outras pessoas.
É sexualmente transmissível?
Ainda não se sabe se o vírus é transmitido por fluidos sexuais (como sêmen ou fluidos vaginais, por exemplo), mas o contato pele com pele durante a relação sexual pode propagar o vírus. Mas como ressalta a OMS, “o risco de contrair a varíola dos macacos não se limita a pessoas sexualmente ativas ou homens que fazem sexo com homens. Qualquer pessoa que tenha contato físico próximo com alguém doente está em risco. Qualquer pessoa que tenha sintomas de varíola dos macacos deve procurar imediatamente um profissional de saúde”.
MACACOS SEM CULPA
A confusão que o nome “varíola dos macacos” pode causar, ao assimilar os primatas como responsáveis pela doença, é supostamente abrandada pelo uso do estrangeirismo monkeypox — na falta de uma expressão melhor. Contudo, é preciso lembrar que os macacos são uma das espécies afetadas pela doença — vítimas, portanto, e não culpados. Aliás, a ciência já sabe que a maioria dos animais suscetíveis a este tipo de varíola não são os nossos primos macacos, e sim os roedores, como ratos e cães-da-pradaria. No entanto, o nome associado aos macacos permaneceu, em razão da descoberta do vírus ter sido constatada nesses animais, em um laboratório na Dinamarca em 1958. Mais um estigma difícil de desconstruir.
Mobilização comunitária já começou
A comunidade LGBTI+ já começou a se mobilizar em relação às ameaças representadas pela monkeypox, com a organização do 1° Seminário de Informação, Orientação e Mobilização da Comunidade LGBTI+ do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu na sede do Grupo Arco Íris, no Centro da capital carioca, em 5 de agosto. Participaram do evento pesquisadores, ativistas, usuários, profissionais e gestores de serviços de saúde, quando discutiram não somente riscos à saúde e estratégias de prevenção, mas também os impactos da associação da disseminação da doença a comportamentos e práticas de homens que fazem sexo com homens (HSH).
No fim de julho, o diretor da OMS recomendou que gays, bissexuais e trabalhadores do sexo reduzissem o número de parceiros sexuais para evitar a exposição à doença. No início de agosto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sugeriu isolar “essas pessoas”, sob o argumento de que esta seria uma “questão epidemiológica” cujo objetivo seria “proteger” a comunidade da doença. Ambas as declarações repercutiram mal, especialmente entre ativistas que assistiram à estigmatização de homossexuais e transexuais como responsáveis pela epidemia de HIV/aids, a partir da década de 1980.
“Com tudo o que a gente já aprendeu com a luta contra a aids, é importante não deixar que repitam o que fizeram conosco”, disse Cláudio Nascimento à Radis . Ele considerou que a OMS divulgou de forma equivocada os dados sobre a monkeypox, lembrando que os estudos são preliminares e ainda precisam passar por uma avaliação qualitativa. Argumentou ainda que a comunidade LGBTI+ é uma das que mais apresenta adesão aos serviços e políticas de saúde — o que poderia explicar uma maior notificação de casos, neste momento.
A advogada Maria Eduarda Aguiar, presidente do Grupo Pela Vidda Rio de Janeiro, reforçou o alerta para o uso de termos como “grupos prioritários” ou “público-alvo” na construção do estigma contra determinadas pessoas e grupos, o que pode ainda gerar negligências que coloquem em risco toda a população. “É preciso entender que todos precisam se proteger”, disse a ativista, elogiando a iniciativa de criação de um observatório sobre a monkeypox, uma das propostas apresentadas no evento.
Diretora do INI/Fiocruz, a médica Valdiléa Veloso declarou que o momento é de reunião de forças para a produção de respostas às novas ameaças à comunidade LGBTI+, explicando que ainda há muito desconhecimento sobre a doença e que também são poucos os investimentos em pesquisa. Neste sentido, considerou a mobilização entre ativistas e cientistas fundamental para a elaboração de mensagens que informem com qualidade a sociedade, evitando assim o efeito das chamadas fake news. “Temos que trabalhar em conjunto desde o início”, reforçou.
O psicólogo Veriano Terto, diretor vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), chamou atenção para a “repetição de cenários” a que se assiste neste momento, sinalizando para uma mobilização efetiva que possa evitar “estratégias que não funcionam” e a responsabilização de grupos pela propagação de uma doença, antes mesmo que se tenham informações seguras sobre os modos de transmissão e de prevenção. “É preciso evitar a disseminação do pânico moral e da epidemia de preconceitos e estigmas”, alertou, reforçando o papel crucial da comunidade na construção de respostas a outras ameaças à saúde. “Nossa história não começa agora. Temos uma convivência próxima e ambígua com a medicina ao longo da história, desde que a homossexualidade foi classificada como doença, no século 19”, disse . “Não somos somente destinatários de políticas e de tratamentos; somos também experts na construção de saúde”, acentuou.
Veriano destacou como prioritária a luta por mais vacinas. “Precisamos brigar pelo acesso universal”, sinalizou, lembrando que houve um tempo em que se dizia ser impossível ter acesso aos medicamentos antirretrovirais no Brasil. “Como dizia o Betinho, em relação à aids, o problema é clínico, mas também é político. Precisamos transformar informação em política pública”, declarou. (A.D.L)
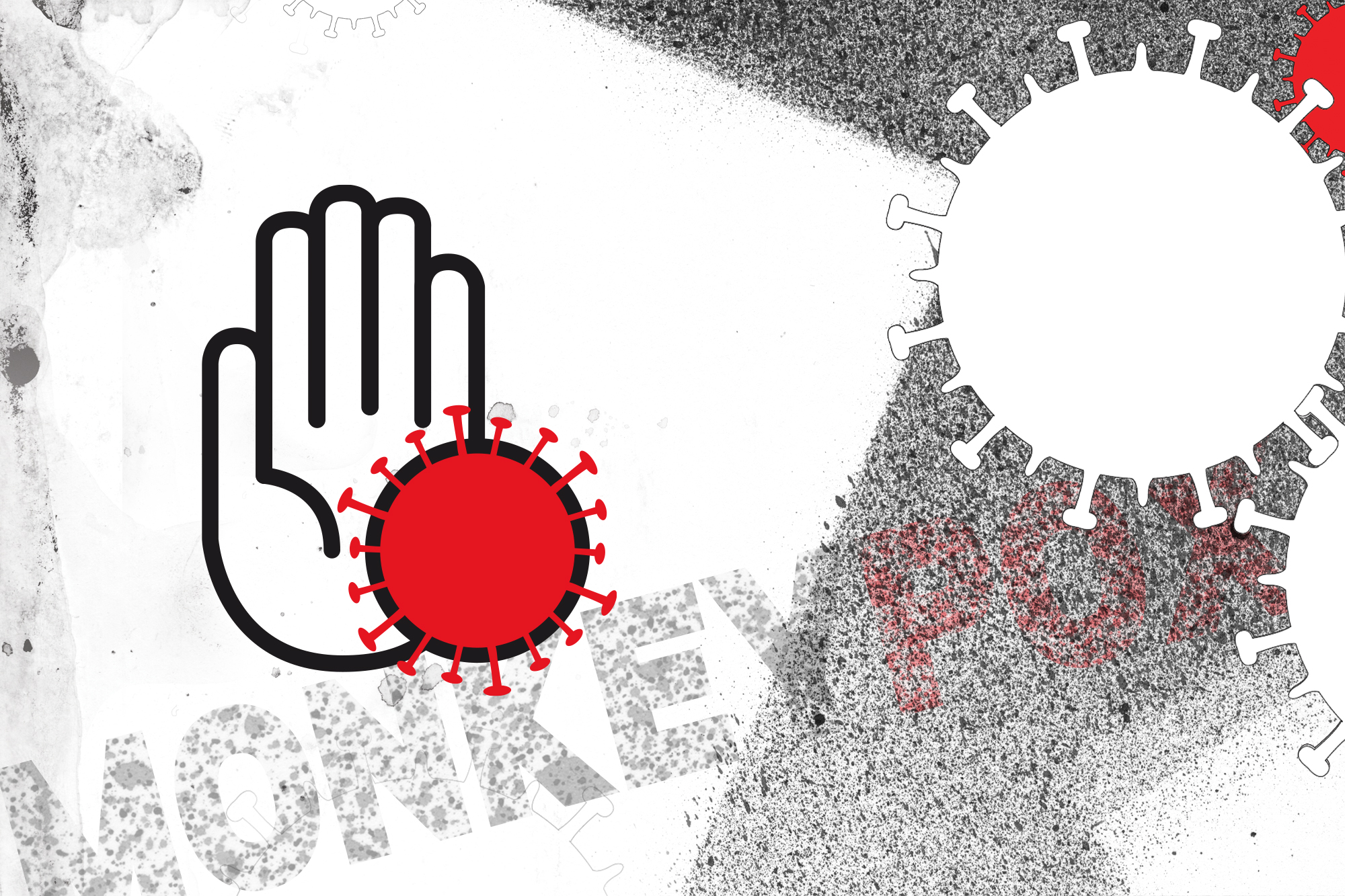









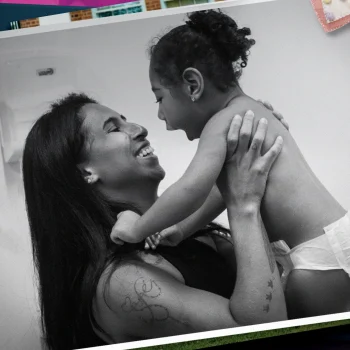

Sem comentários